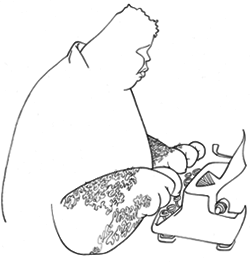Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil,Todavia, 2021, pp. 143-145. Publicada, originalmente, em O Globo, de 2/08/1956. E no livro O jornal de Antônio Maria, Saga, 1968, pp. 43-46, com alterações.
A estrada fez uma curva da direita para a esquerda e começou a voltear o lago. À esquerda, uma pequenina avenida estava cheia de bandeirinhas azuis, vermelhas, amarelas, brancas. Dos restaurantes em fila, vinha uma música de flautas, acordeões e violinos. Homens e mulheres comiam na varanda, rindo e cantando. À direita, uma rampa de grama, o lago verde-escuro pela sombra das árvores e aquelas moças de cabelos soltos, de mãos dadas, tão jovens, andando devagarinho, esperando idade para o desgosto. Parei o automóvel para vê-las e tentar senti-las. Que mundo seria o de suas almas? Que espécies de ânsia e calor correriam em seu sangue? No meu lugar, um jovem ginasiano teria desejado tomar um daqueles rostos e, com ou sem doçura, beijá-lo minuciosamente. A mim cabia vê-las e, contritamente, arrepender-me de todos os meus pecados. Esses pecados mortais irremediáveis: o de ter nascido, o de ser filho de senhor de engenho e o de ter envelhecido tanto, antes de chegar a Blankenheim.
O homem completava o tanque de gasolina, enquanto o menino calibrava os pneus. Uma mulher de cabelos cinzentos deu um doce ao cachorro e fez-lhe uma pergunta que ficou sem resposta. Tentou saber de mim o que o cachorro não lhe soubera explicar. Tudo em alemão. Disse-lhe, em português, que a melhor maneira de nos entendermos seria ficarmos calados. Ela riu do som das minhas palavras. Eu ri do riso dela. O menino da calibração riu de nós dois e, para não ficar por baixo, o homem da gasolina também começou a rir. Nessa altura, minha amiga voltava e perguntou quem dos quatro contara a anedota do “lima a mira”. Apontei para o cachorro.
Seguimos viagem, deixando o lago, as moças, as bandeirinhas e um outro arrependimento meu, que não citei na relação acima: o de não tocar violão.
Duas cidades após, eram quatro horas da tarde. Saíramos de Paris à meia-noite pela Porte de Pantin e tínhamos apenas tomado leite com presunto, em Verdun. Não fosse tão agradável o ar fresco daquele domingo e tão belas as margens do caminho, estaríamos morrendo de fome e de desgosto. Entretanto, poderíamos chegar até Colônia sem comer coisa alguma e, de lá, fazermos os 600 quilômetros na direção norte, até Hamburgo. Mas, à direita do caminho, havia uma casa de campo tão simpática, tão limpa, ao centro de tantas flores, que inventamos uma fome qualquer para apear. Comeríamos o quê? O menu teria pratos que se escrevem mais ou menos assim: “Vilhgurterzein”. E, quando um viesse, seria, digamos, uma sopa de asas de borboletas. Mas descemos e comemos carne branca de ovelha, com um molho delicioso e uma espécie de repolho. A cerveja tinha uma tonalidade acaju e, ao se ver no estômago, subia-nos às pontas das orelhas. Deu aquele sono brasileiro de terraço. Sono de casa-grande. Sono que só Ascenso Ferreira poderia interpretar, num filme sobre banguês. O jeito era ficar ali, dormir dentro das próprias mãos, sonhar com os dedos e as linhas da vida. Se alguém quisesse esperar por alguém, que o tempo esperasse por nós. Parasse. Que nos importava chegar um dia ou um ano depois a Hamburgo? E alcançávamos assim o auge da falta de caráter, quando o dono da casa nos deu, a cada um, um comprimido e um copo d'água. Parece mentira, mas, cinco minutos depois, estávamos lépidos e fagueiros, como quem se deita às nove da noite e dorme até sete da manhã. “O que é a natureza!” – dissemos um ao outro. E continuamos estrada afora, gozando essa coisa romântica e inacreditável que é estar-se numa Alemanha lindíssima, depois de tantos "Heil Hitler!”.
Após 24 horas de viagem, uma parada e quatro doses de scotch, chegávamos àquele cabaré de Saint Pauli. Uma mulher viera sentar-se ao meu lado ou, talvez, eu é que tenha ido sentar-me ao seu. Apurar de quem partira a iniciativa não era bem a preocupação. As pálpebras pesavam-me arrobas. Vestia uma calça azul de brim ordinário, uma camisa qualquer e um paletó de lã muito mais curto nas costas que na frente. Estava barbado e sujo. A mulher tomou-me uma das mãos, olhou-a e passou a uma amiga. A amiga olhou com desinteresse e devolveu. A que recebera de volta tornou a olhar e, depois de tomar-me a bênção, restituiu-me, enfim, a mão direita. Antes de guardá-la em um dos bolsos, contei os dedos. Estavam certos, cinco. Aí a cabeça caiu sobre os braços. Ouvia cada vez mais longe o pistão da orquestra solando o "Arrivederci, Roma”. Cada vez mais longe. Cada vez mais longe, quem sabe na própria Roma. Meus cabelos foram acariciados fraternamente e não sei de mais nada. Acordei de tarde, sem saber onde estava e mais ou menos inseguro de quem era. Reconheci-me, a seguir, pelo relógio e pelas abotoaduras. Desgostei-me de estar sozinho e teria pedido água ou café se um dos meus filhos viesse com a bandeja. Olhei o cinzeiro, onde estava escrito: “Vier Fahreszeiten — Hamburgo”. Era demais!