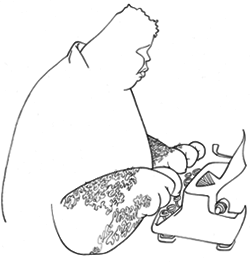Fonte: coluna "Jornal de Antônio Maria", Última Hora, de 18/06/1961.
Nota 2: Adolescência
Da infância, de tudo o que houve, ficaram as impressões olfativas. Não teria havido mais nada, senão o cheiro da terra, o jasmineiro, o cozimento dos doces de goiaba?
Certamente, não.
O adolescente é inteiramente só. Faz todas as viagens e se casa com todas as mulheres sem sair de sua casa, sem fazer outro caminho senão o grave caminho da volta do colégio. Todas as coisas acontecem por dentro do adolescente. Daí o silêncio, a vaguidão, a densa estupidez aparente dos adolescentes.
Vamos admitir que haja o último dia da infância. Quanto à minha, tenho a impressão de que não houve. Que sempre fui um velho ou que ainda sou menino. Mas, vamos admitir que tenha havido esse último dia. Procuro-o, incessantemente, na memória. É possível que tenha sido numa manhã do ano de 1927. À porta da minha casa, um homem louco de ciúmes rasgou à navalha o corpo de uma mulher. Depois, ele mesmo, o homem, cortou o pescoço com a navalha. Seu corpo caiu atravessado na linha do bonde. O bonde parou para não matá-lo outra vez. Veio a ambulância e o enfermeiro, com a ponta do sapato, tocou a cabeça do homem. A cabeça estava solta do corpo. Todos viram e todos cobriram os rostos com as mãos. Disse o enfermeiro àquelas pessoas horrorizadas, como se nada demais houvesse acontecido:
― Este não precisa mais de ninguém.
E afastou-se. As pessoas ficaram mais horrorizadas ainda, com a frieza do enfermeiro. Mais do que com a cabeça desligada do corpo. No entanto, aquele enfermeiro dissera uma coisa muito séria e muito direita. Aquele homem não precisava mais de ninguém. Não precisava dele, o enfermeiro. Nem do horror caridoso da plateia. Afinal, não precisava de nada e de ninguém, porque estava morto.
A mulher, com o corpo rasgado à navalha, foi levada a uma padaria, enquanto esperava a maca e os enfermeiros. Gritava e pedia muito que lhe dessem água. Uma velha empregada da nossa casa nos disse, com absoluta segurança:
― Se ela pediu água, é porque ela vai morrer.
E explicou:
― Pessoa ferida a aço, quando pede água, morre.
Eu fiquei de, um dia, certificar-me disto com um médico, mas fui deixando para depois e desisti. E fiz bem, por que aquilo me foi dito por uma pessoa que acreditava tanto em si mesma e eu acreditava tanto nessa pessoa que, se um médico não confirmasse, estaria desmentindo não uma velha empregada da nossa casa, mas um acontecimento do possível último dia da minha infância.
Qual teria sido o primeiro dia da adolescência? A procura é ainda mais difícil que a do último dia de infância. Certamente não foi o da primeira mulher. Porque a primeira mulher não é nunca a que se entrega ao adolescente. Mas, aquela que acontece, como todas as coisas, por dentro do adolescente. Aquela que se torna um sentimento. Uma dor. O primeiro ciúme venial.
No dia em que fiz 15 anos, minha mãe me deu um relógio de pulso. Não me lembro se me deu dinheiro. À noite, na Boa Viagem, havia várias pessoas que já tinham feito 15 anos. Eu lhes mostrava o meu relógio. A princípio, conversou-se sobre mulher de roupa de banho. A que tinha mais isso e mais aquilo. A que era mais bonita disso e daquilo. Um deles, muito rico, quando se dizia o nome de uma, proclamava em cima da palavra:
― Já vi nua.
Casualmente, saiu o nome de sua irmã e ele ficou calado. E essa, por acaso, já tinha sido vista nua por vários dos presentes maiores de 15 anos
Então a conversa mudou para aguardente. De todos, o único que já havia provado era eu.
Isto não me fez mal nem bem. Não me envergonha nem me jubila. Mas desde os 13 anos, quando voltava do colégio, parava numa venda e bebia 200 réis de aguardente. Achava aquilo muito natural, não seria capaz de deixar de fazê-lo e estava absolutamente certo de que o fazia por causa do banho. Naquele tempo, nos engenhos, fazia mal tomar banho sem, antes, beber um pouco de aguardente.
Então, propuseram-me uma aposta. Ou melhor, um desafio. Eu beberia uma garrafa de aguardente pelo gargalo.
Quando acordei a sala estava toda escura. A sala de jantar, onde me armaram uma cama de lona. Eu não sabia de nada. Mas soube logo depois, pela minha mãe, que eu fui encontrado na praia e que o mar ia me levando. Um empregado de uma casa da vizinhança chegou a tempo de me salvar a vida. O relógio, não.
Nesse dia, em nossa casa, durante muitas horas, todos concordaram em que eu não tinha jeito. Falaram na minha ida para a Marinha. E não sei em que dia mudaram de opinião ou se já mudaram de opinião. Quanto a mim, me convenci muito do que eles disseram e vivo muito bem assim, absolutamente certo de que não valho, sequer, aquele relógio que o mar levou.
Não existe maior solidão que a do adolescente. Não me lembro de mais nada que fiz. Do que sonhei, sim, me lembro de tudo. E fui fazendo coisa por coisa, depois, já homem, todas as coisas que sonhei. O adolescente não é um cretino, como se julga. É uma pessoa emboscada, sonhando. Não faz nada. Ou o que faz é desatentamente, sem intensidade, sem gosto, ao acaso do jeito.