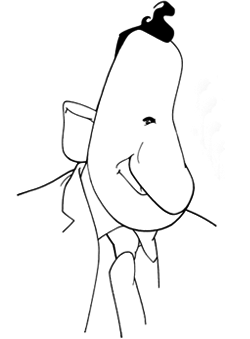Fonte: Alterosa, 10 junho a 10 julho, de 1963.
Leio num artigo de meu amigo Ney Peixoto do Valle, técnico em relações públicas, esta verdade óbvia: “O automóvel está ligado ao conceito de conforto e de melhoria do padrão de vida do povo e de prosperidade de um país”. Concluo daí, também obviamente, que o conceito de conforto de nosso povo tem se elevado e que, apesar dos pesares, o País tem prosperado a olhos vistos. Dispor de uma viatura já não é privilégio reservado a poucos e raros. Basta a boa vontade de um banqueiro, alguns papagaios sacados contra o futuro e certo malabarismo salarial para um cidadão de classe média motorizar-se. Eu evidentemente não sou do tempo em que só o dr. Borges da Costa possuía automóvel, em Belo Horizonte. Mas não é sem espanto e uma ponta de inveja que vejo hoje muito rapaz comprar o seu carrinho de segunda e até de primeira mão, mal começou a dar os primeiros passos profissionais. E falo sobretudo dos alegres rapazes da imprensa, como diria nosso confrade Joel Silveira. Em 1946, Edgar da Mata Machado e eu empreendíamos a nossa vaquinha não para adquirir um carro, mas, sim, para comprar uma máquina datilográfica, que usávamos em fraternal rodízio na redação de um poderoso vespertino carioca.
Instrumento de amável vadiagem, meio de transporte utilíssimo, arma assassina que mata mais do que o enfarte e o câncer, o automóvel exerce, sobre os adultos e crianças, um tipo de fascinação irresistível. Henry Ford, antes de ser um grande industrial, foi um grande psicólogo, com a sua mass production. O automóvel empolga o senso lúdico que dorme latente no fundo de todo marmanjo. Dá-nos mobilidade e uma pitada de sonho. Todo mundo gosta de dirigir. Na falta do leme do Estado, que é só um e disputadíssimo, um simples volante pode, quem sabe, matar a nossa pobre sede de mando. Enquanto não vem a utópica sociedade sem classes, o automóvel continuará sendo um símbolo de ascensão social. E um instrumento de afirmação pessoal. Li, há anos, numa esnobe revista americana, um estudo sobre as relações entre o sexo e o automóvel. O autor estabelece insuspeitadas conexões entre a potência medida em cavalos-vapor e outras potências menos matematicamente mensuráveis. Na mesma linha de sutis descobertas, haveria certamente muito o que rastrear, por exemplo, sobre a psicologia do usuário desse meio de prestígio, mais que condução, que é o carro oficial. Dos bens com que a civilização industrial complicou a vida humana neste século, nenhum oferece maior sedução do que o automóvel. E um elogio que sempre nos cai bem, a qualquer um de nós, é o que nos atribui a qualidade de bons motoristas. Meu amigo Millôr Fernandes, que, despido de vaidades, acaba de reunir em livro as suas Lições de um ignorante, orgulha-se de ser um leigo e de nada saber. Mas já declarou que a única coisa que sabe ser, à perfeição, é um ás do volante. E é mesmo, segundo eu próprio posso testemunhar. O arquiteto Sérgio Bernardes já atravessou o Atlântico com o seu possante para ir participar de uma corrida automobilística na Europa, em que não fez má figura. Um dia, saiu com um polpudo cheque no bolso para saldar um compromisso inadiável. No meio do caminho, apaixonou-se por uma Masserati, comprou-a e esqueceu o compromisso.
No meu tempo de estudante em Belo Horizonte (e foi outro dia mesmo), entre os meus colegas de turma na Faculdade, só três felizardos desfrutavam da superioridade de possuir automóvel: o hoje delegado Fábio Soares Campos, o hoje embaixador José Sette Câmara, dono de um pipocante DKW alemão, e o hoje empreiteiro João Emílio Resende Costa, possuidor de uma flamante barata conversível, que fazia dele um exemplar do que então poderia passar por uma antecipação mineira de playboy. Interrompendo a fabricação e a importação de carros, a guerra de 1939 transformou o automóvel numa entidade mais do que nunca intangível. Mais tarde, o racionamento de gasolina reduziu-nos todos ao rastaquerismo de simples pedestres, com pouquíssimas exceções, entre as quais se incluíam os que, com vocações de carvoeiros, tiveram o mau gosto de adotar o horroroso sistema de gasogênio. Era o bonde, por isso, o nosso meio de transporte compulsório. Na pacata Belo Horizonte de 1940-45, o último bonde circulava à meia-noite, o que quer dizer que se recolhia a desoras, segundo os sensatos padrões da tradicional família mineira. Era natural, pois, que, como Carlos Drummond de Andrade, uma década antes, os estroinas perdessem o bonde e a esperança e voltassem pálidos para casa. Andava-se muito a pé, e como! Perambulávamos, peripatéticos, de dia, de noite e sobretudo de madrugada, num desperdício de energias que deveriam ter sido consumidas em prol dos superiores interesses da pátria. À falta de automóvel, abancávamos na praça da Liberdade, com as pernas formigantes do cansaço imposto pela nossa condição de inquietos andarilhos. E ali, entre rosas, puxávamos a nossa angústia adolescente e salvávamos o mundo com meia dúzia de versos e um punhado de impetuosas intenções juvenis. Afastada a hipótese do carro particular, sobrava para uns poucos afortunados, a singularidade do carro oficial. No panorama do subdesenvolvimento nacional e da austera pobreza mineira, me pergunto hoje se o carro oficial não terá contado, ainda que inconscientemente, para impor a sedução da carreira de burocrata bafejada pelo prestígio do poder. O chapa-branca era o mais visível sinal desse poder, a que Minas se podia discretamente chegar pela fatalidade dos gabinetes. Cyro dos Anjos, Emílio Moura, Guilhermino César e Murilo Rubião eram alguns dos que, naquele tempo, tinham acesso a uma viatura do Estado, usada com franciscana cautela.
Do nosso grupo, hoje conspicuamente quadragenário, o primeiro a possuir automóvel foi Fernando Sabino, tantas vezes marcado pelo selo pioneiro da precocidade. Por artes de seu motorizado irmão Antônio, tornou-se proprietário de uma velha e pesada barata La Salle, que já foi tema de uma crônica deliciosa. No dia em que cheguei ao Rio de mudança, em janeiro de 1946, o baratão, como o chamávamos, enguiçou sob um calor infernal em plena rua 1º de Maio. Minha primeira tarefa carioca foi empurrá-lo até a praça XV, onde Fernando passou pelo vexame de verificar que apenas se tinha esquecido de encher o tanque. Fernando partiu depois para os Estados Unidos, de onde voltou de férias em 1947. Trouxe um Ford Coupé, fina e invejável novidade do após-guerra. Nesse Ford, Carlos Lacerda aprendeu as suas primeiras lições de choferagem. Saíamos os três, Carlos, Fernando e eu, à noite, pela Gávea, em busca da pista tranquila do Trampolim do Diabo. Não me lembro de nenhum golpe de direção, à direita ou à esquerda, que tivesse dado o então impetuoso aprendiz de chofer. Corria-se, é verdade, algum risco suplementar, porque o atual governador da Guanabara punha às vezes mais atenção (e paixão) na conversa do que no volante. Pois assim se deu que coube a Fernando Sabino ser o mestre do motorista Carlos Lacerda. E eu fui a testemunha histórica desse aprendizado. Quando voltou definitivamente de Nova York, em 1948, Fernando desembarcou um Chevrolet conversível que arriava a capota mecanicamente. A preferência do autor de O encontro marcado pelos carros esportivos, na sua fase de formação, é um dado que está a merecer a atenção da crítica factual e científica. Do New criticism, em suma. Acredito que seja possível estabelecer ligação reveladora entre essa preferência e a leveza de estilo do cronista de O homem nu. Quando vendeu esse flamívolo (era vermelho!) Chevrolet, Fernando voltou por convicção à qualidade de pedestre. Carro, só dos outros — passou a egoisticamente sustentar, aborrecido talvez com o número de caronas, mais amigos de seu carro do que dele. Só muito depois comprou um vasto Pontiac de segunda mão, que caiu de podre, roído pela maresia e pelos percalços da vida. Hoje circula num Aero-Willis, que já estourou o motor, certa noite, quando ousou apostar corrida com a minha Mercedes-Benz, na praia do Leblon.
Carro mata menos escritor do que avião
De podre caiu também a Rural Willis de Hélio Pellegrino. Numa de suas últimas viagens a Belo Horizonte, o poeta-analista entrou na avenida do Contorno com um estranho modelo de camionete conversível: o vento tinha-lhe arrancado a parte superior da carroceria. Nos idos de 1940, Hélio costumava surgir montado numa motocicleta surripiada a seu irmão José. Com a lembrança de que Georges Bernanos, jovem, tinha cortado a França em cima de uma motocicleta, Hélio ao volante e eu na garupa, juntos assombramos a madrugada de Belo Horizonte, na ruidosa e dupla volúpia da mocidade e da velocidade. Anos mais tarde, por via de uma operação também fraterna, Hélio adquiriu um carrinho. Era um Fiat-500, que não tinha arranque. Só podia parar na descida, o que em Belo Horizonte não constituía problema. Mudando-se para o Rio, cidade plana ao nível do mar, o nosso poeta teve de abandonar a Fiat por um Austin, com a feliz peculiaridade de possuir um motor de arranque. Foi nesse Austin que Hélio deu uma carona histórica a Nelson Rodrigues. O dramaturgo entrou no carro e, com o seu poder satânico de influenciar pessoas desprevenidas, manifestou o desejo de ir ver o ensaio de uma sua peça. Generosamente, como é de seu feitio, Hélio abandonou os compromissos do cotidiano e fez-lhe a vontade. O ensaio da peça era em São Paulo. Não me consta que Hélio já tenha dado carona igual no seu elegante Simca Chambord, que hoje dirige cheio de dedos e cuidados. Esclareça-se, porém, que Nelson deixou de ser o terrível filante do carro alheio que por tantos anos fez dele um carona temível. Que diga Galba Mengale. E que eu próprio o diga, pois Nelson foi por vários anos habitual freguês de meu Austin, mas só no perímetro urbano, com raras e episódicas sortidas à Zona Norte, Nelson dá-se por incapaz de dirigir automóvel. Não quis seguir o exemplo de Genolino Amado, que aos 62 anos de idade está aprendendo a guiar. Feito igual, de resto, só o de Henrique Pongetti, que aprendeu a escrever à máquina aos 60 anos. Hoje, o dramaturgo do Vestido de noiva possui dois carros, o que é um atestado de favor dos direitos autorais. Quem os dirige, porém, é o seu bravo filho Joffre, obrigado a filialmente conduzir o pai glorioso em suas incansáveis andanças do Andaraí à Zona Sul, atrás de um bate-papo noturno ou de uma pizza, de madrugada, na Fiorentina.
Do mesmo recurso do chofer filial usou o romancista Cyro dos Anjos. O autor de O amanuense Belmiro tentou aprender a dirigir, mas não manifestou à arte automobilística os mesmos pendores que o credenciam na arte literária. Quando esteve em Lisboa, nos lazeres de professor de Estudos Brasileiros, retomou as lições de direção, com o seu respeitoso e reverente chofer português. Depois de dois meses de prática, Cyro, sem progresso visível, exprimiu a seu mestre o temor de que não viesse nunca a aprender a arte do volante. Súbita e surpreendentemente, o bom luso depressa concordou com o romancista, nos termos veementes do seguinte desabafo: “Vossa excelência tem toda razão, doutor, e prova com isso que é homem sensato. Fique lá vossa excelência com suas aulas de sua literatura e deixe-me a mim a missão de o dirigir. Porque nesse particular, doutor, vossa excelência não passa de uma grandíssima besta”! Cyro seguiu o delicado conselho de seu mestre e, quando voltou ao Rio, passou a locomover-se por obra e graça de seu filho Martim Afonso, até que, primeiro aqui e depois em Brasília, recuperou o doce embalo do carro oficial.
Um curioso caso de regressão, que merece registro, é o de Marco Aurélio Mattos. Era fã ardoroso do automobilismo. Muito cedo, aprendeu a dirigir e não perdia vasa de aparecer com um carro emprestado a algum parente ou amigo. Assim que a Caixa Econômica lhe permitiu, comprou um Vauxhall novinho em folha. Chegou a apelar para a infâmia do trocadilho, na euforia de novel proprietário, e, bom humanista, mudou o conhecido brocardo latino: Vox populi, vox hall. Teve a má sorte, porém, de ser violentamente abalroado por um ônibus, na avenida Bias Fortes. O acidente deu uma ação judicial interminável. Marco mudou-se para o Rio e para cá trouxe o carro, numa viagem épica, ajudado por Amílcar de Castro Filho. Aqui, desgostoso, vendeu os despojos de seu Vauxhall a meu irmão Vicente, que tem alma de mascate e compra tudo, como nos pequenos anúncios do Jornal do Brasil. Nunca mais Marco Aurélio quis saber de automóvel. Sustenta que é uma caranguejola excessivamente complexa, ainda na sua idade infantil, e garante que só voltará a comprar carro no dia em que o motor tiver o tamanho de uma caixa de fósforos.
Já Autran Dourado chegou ao Rio com aquele jeitão de mocorongo, típico do nosso andar mineiro de subir ladeira. Civilizou-se logo, num banho lustral com as águas do Palácio do Catete. Assim que se viu apeado do carro oficial aprendeu a dirigir meio canhestramente e tratou de adquirir um Austin de segunda mão. Autran não era ainda autor da excelente Barca dos homens, mas seu carro demonstrou insopitável vocação anfíbia — e precipitou-se nas águas da lagoa Rodrigo de Freitas. Salvaram-se ambos, carro e chofer, apenas molhados. Autran comprou então uma Kombi, tipo da barca dos homens que o romancista dirige com exímia prudência, evitando sempre as margens da lagoa. O outro lado da lagoa, Ipanema, viu as peripécias de Rubem Braga, que trouxe um imenso Chrysler Imperial quando voltou do escritório comercial do Chile. Seu talento de motorista é pouco maior do que o de Cyro dos Anjos. Depois de alguma temeridade, o cronista vendeu o carro e voltou a ser consumidor de táxi, como Rosário Fusco, que costuma ir a Cataguases em carro de aluguel. Hoje, embaixador no Marrocos, Rubem tem dois carros mas tem chofer, tal qual Augusto Frederico Schmidt, este não em Rabat, mas no Rio. Outro que comprou carro sem saber dirigir foi Carlos Castello Branco. Na qualidade de seu motorista auxiliar, fui com ele a Ipanema buscar o Volkswagen alemão que adquirira. Mas Castello é rápido no gatilho. Aprendeu não só a dirigir, como a comprar carro. Já comprou vários, sucessivamente, a tal ponto que, morando hoje na Novacap, há suspeitas de que tenha inaugurado uma linha Castello-Brasília. Ainda agora, antes de partir para a Europa, Castello adquiriu um Aero-Willis 2.600, com que espera manter o recorde de velocidade na BR-3. A mais recente conquista do automobilismo foi Paulo Mendes Campos. Antes de comprar o seu Volkswagen, deu prova de insuspeitado bom-senso e diplomou-se, juntamente com José Guilherme Mendes, num curso de motor e direção. Há pouco tempo, contou as suas impressões de neófito em crônica na Manchete. E eu perdi um dos meus mais assíduos e bem-vindos caronas.
Numa rápida estatística a que andei procedendo, concluí que são raros os escritores e artistas maiores de 40 anos que dirigem automóvel. Carlos Drummond de Andrade, já não tendo carro oficial, anda de lotação, que é um dos seus temas prediletos, como o foi de José Lins do Rego.
Este chegou a ter uma crônica diária chamada “Conversa de lotação”. Todavia, foi o cronista Carlos Drummond de Andrade que chamou o automóvel de “máquina moderna de conquistar mulheres”. Manuel Bandeira também não dirige, nem nunca teve carro. Para resolver o problema da condução, preferiu morar na Esplanada do Castelo, a um passo da Academia Brasileira. Tristão de Atahyde, que eu já tive a glória de transportar no meu velho Austin, pertence como tantos outros, à classe dos pedestres. E nem por isso o Mestre Tristão deixa de comparecer pontualmente a todos os seus inúmeros compromissos. Outro Athayde, o Austregésilo, só anda a pé, e de sandálias, o que é, segundo ele mesmo e Einstein, o melhor calçado tropical. Já Gustavo Corção tem carro e o dirige, inclusive para dentro de seus comentários de jornal, dando vazão aos seus acessos de mau humor contra o tráfego carioca. Vinicius de Moraes também possui automóvel, Mercedes-Benz, e é um motorista quase tão míope como o escultor José Pedrosa, fiel há anos ao seu estranho MG britânico. Mário Pedrosa é carona, quase sempre de seu genro Luciano Martins ou de sua mulher Mary Pedrosa.
Quanto aos acidentes, além daquele do Autran, que já contei, tem havido alguns. Eu mesmo tive a sorte de sair ileso certa noite em Copacabana, depois de atropelar um lotação, um caminhão, um Dodge e um Citroën. Este Citroën, com o seu proprietário, um tenente do Exército, entrou para uma crônica de Fernando Sabino, juntamente com o meu advogado no feito, o querido amigo Mário Cabral. Vinicius de Moraes quase morreu há quatro anos, na estrada Rio-Petrópolis. Recuando no tempo, na década de 30, vamos encontrar como mártir do automobilismo o Ronald de Carvalho, que morreu num acidente na praia do Flamengo, esquina da rua Silveira Martins. Na mesma praia, mais adiante, morreu há dois anos, atropelado, o pedestre e grande ensaísta Brito Broca. Recentemente, o poeta Afonso Félix de Souza foi vítima de um caviloso desastre em Brasília, do qual saiu todo fraturado e em coma. Os fatos mostram que carro tem matado menos escritores do que avião, pois em desastre aéreo morreram, entre outros, Octávio Tarquínio de Souza, Lúcia Miguel Pereira, Vinícius Meyer, Mário Faustino e Jorge Lacerda.
Ninguém ilustrava melhor o prazer infantil de dar uma volta de carro do que o nosso velho e saudoso mestre Arduíno Bolívar, com o seu santo coração de passarinho. Não podia parar um carro de amigo à sua porta, que o grave humanista ficava indócil e acabava sugerindo um pequeno giro até a casa de um amigo. Igual fascinação, em todo o seu estado de pureza feérica, tive ocasião de observar há tempos em um velho fazendeiro do interior de Minas, meu parente. O homem já tinha passado dos 80 anos, mas era uma criança diante de um automóvel. Chamava à fazenda todos os agentes de venda de carro que podia só pelo gosto de dar uma voltinha e, lambuzado de prazer, pedia ao chofer para “trocer o guidão”. Há mais de quarenta anos, admira essa máquina fantástica e meio diabólica com que os homens, neste século, manifestam a sua pressa de viver e, às vezes, de morrer. Até hoje, porém, meu velho parente não se decidiu a comprar um carro. Como bom mineiro de velha cepa, consegue refrear o seu desejo, mesmo porque ele preza mais o rico dinheirinho do que um desses novos e espalhafatosos modelos americanos rabo-de-peixe ou rabo-de-qualquer-outra-coisa...