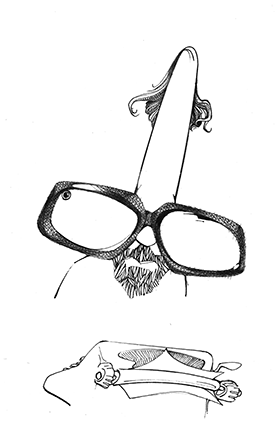Fonte: O saltimbanco azul, L&PM editores, 1979, pp. 161-163. Publicada, originalmente, no Caderno B, do Jornal do Brasil, de 24/08/1974.
Em dado instante éramos três provincianos reunidos num só quarto, numa pensão da rua Buarque de Macedo. O Evandro, de Belém do Pará; o Ribamar, de São Luís do Maranhão; e este capixaba que vos fala. Ninguém ali tinha ainda um destino, nem o desejava, pois éramos três escritores malditos. Andávamos pela cidade procurando uma ocupação ou inventando uma brincadeira perigosa. Por exemplo: fazíamos uma lista de livros que deveríamos ler; Ribamar e eu ficávamos sentados num banco de praça, enquanto Evandro, com uma capa de chuva no braço, percorria as livrarias; algum tempo depois ele voltava, trazendo sob a capa toneladas de livros roubados.
Nessa altura éramos frequentados pelo Dílson, um poeta primitivo que cultivava (com prazer) uma tosca esquizofrenia, e pelo Joaquim, escritor já consagrado, e que gostava de andar descalço. Em nosso quarto, além dos livros, só havia um objeto digno de nota: a pia. Ao rés do chão morava uma família de três pessoas; quando alguma delas dizia alguma coisa, a voz subia pelo cano e fazia vibrar a pia, à qual Ribamar se referiu num poema, dizendo que era “pia, oráculo e urinol”. No segundo andar, então, morreu um senhor, que nunca tínhamos visto. Alguém sugeriu:
― Vamos visitar o defunto?
Subimos a escada estreita entre paredes encardidas, aqueles cinco bandidos maltrapilhos e desesperados, cumprimentamos os familiares do morto, que não estavam entendendo nada, e rodeamos o caixão, sequestrando o velório. Cada qual disse uma frase qualquer a respeito da morte, que nesse tempo era a nossa formosa dama. Então o Ribamar, um jovem alto, ossudo, de fisionomia sempre enfurecida, agarrou o cadáver pela gravata e se pôs a sacudi-lo, perguntando repetidamente:
― Cadê o homem que estava aqui?
Em seguida, rolamos os cinco, escada abaixo, impelidos pela indignação da viúva, órfãos e demais parentes.
Mais tarde, tomamos conhecimento de um fato que nos deixou transtornados. Um intelectual dos mais ilustres, já velho (e que ainda hoje admiramos), fora apresentado, em Praga, a um artista obscuro. Disseram: “Esse é o Kafka”. Nosso intelectual retrucou:
― Quem? Kauka?
Anos depois é que saberia de quem realmente se tratava. Mas nós estávamos ali, na rua Buarque de Macedo, à procura de pretextos. Evandro começou:
― Vejam só. Esse cara está em Praga, e lhe apresentam um homenzinho de olhos tristes...
Eu continuei:
― E lhe dizem: “É o Kafka. Franz Kafka”...
Ribamar emendou:
― E ele perguntou: “O quê? Kauka”?
Os três, então, decidimos no mesmo instante:
― Isso não pode ficar assim!
Era uma tarde chuvosa. Saímos à rua já escandalosos: sem camisa, paletó pelo avesso, calças arregaçadas pelos joelhos e tamancos. Fomos ao encalço do escritor, que avistamos na rua Gomes Freire, muito digno no seu terno e gravata, portando um guarda-chuva fechado, à maneira de uma bengala, pois ainda não chovia.
― É ele! ― Gritou Ribamar.
― Pega! ― Secundou Evandro.
E cercamos o ilustre intelectual, aos gritos de “Pega! O homem que disse Kauka! Isso é inaceitável”! ― E o pobre senhor procurando nos atingir com o guarda-chuva, respondendo: “Canalhas! Moleques”!
Foi sublime. Já estávamos cansados, Kafka já estava vingado, e nós saímos a correr pelas ruas, rindo às gargalhadas. Ora vejam só, Kauka...