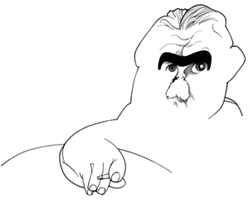Fonte: Um cartão de Paris. Seleção e organização de Domício Proença Filho, Record, 1997, pp. 122-125.
Estou sozinho em casa, por preguiça e prazer. Leio um livro; depois me canso e começo a ler outro. Mas tenho uma hora inteira à minha frente. Começo a escolher um disco, dos pouquíssimos que tenho; mas reparo que não é isso que estou querendo.
Abro um álbum de reproduções de quadros. Vou folheando devagar, bem devagar, reparando aqui e ali coisas que não tinha reparado antes; volumes que se compensam, linhas que se correspondem, cores... Fico a imaginar o que o pintor pensava ou sentia ao começar o quadro; o motivo que o guiou na escolha de uma figura, e como ele conseguiu criar essa atmosfera com meios tão simples; procuro o motivo além do assunto, o enredo íntimo, o sentimento pessoal que ele deu ao tema, o que ele conta de si mesmo nesse quadro.
Abstraio os detalhes da fatura e me deixo ver o quadro, como se o visse pela primeira vez, renovo em mim essa impressão primeira sem indagar se ela vem do claro-escuro ou do jogo de cores, se do arabesco do desenho ou do espaço criado pela perspectiva, do modelo ou da composição. Deixo-me ver o quadro com inocência, recebo a sua revelação virgem como se fosse uma bela desconhecida, que apenas achamos digna e triste, ou leve e tímida, sem sequer poder dizer a forma do seu nariz ou a cor de seus cabelos.
E de repente compreendo que minha música interior não a recebo pelo ouvido, impreciso e deseducado, mas pela visão das linhas e das cores. É de ver pintura e desenho que tenho saudade e fome quando o jogo da vida me cansa; é a pintura que me apazigua e me faz sonhar. Sou, entretanto, um viciado quase grosseiro e me culpo de não ter nunca afinado melhor essa regular sensibilidade que nasceu comigo. Apenas sei que de algum modo já aprendi a ver, pois me espanto com o gesto rudimentar de algum amigo menos interessante em pintura. Mas, quando leio uma página de Venturini, por exemplo, sobre algum quadro que conheço e amo, sinto-me invejoso e humilde, porque vejo que ele sabe amá-lo melhor que eu, exatamente como se ele tivesse notado um detalhe lindo da mulher que eu amo, um detalhe que eu nunca tivesse reparado. A boa crítica de arte o que é, senão um ato de amor?
E de repente tenho pena de tantos pintores que se agarram a teorias e escolas, do concretista apaixonado ou apenas acompanhador da moda que se proíbe a delícia que lhe poderia causar uma figura ou uma paisagem, do neorrealista para quem fica sendo um pecado gostar de uma composição abstrata — de todos os que amputam, por causa de teorias de momento, de paixões estranhas à arte, à própria sensibilidade e limitam sua alegria íntima nesse mundo maravilhoso da pintura. Mundo maravilhoso do qual sempre voltamos com um respeito maior pela dignidade e liberdade humana, um respeito por essa pobre coisa, o indivíduo que permanece fiel a si mesmo e procura contar sua tristeza, sua maravilha ou sua ânsia de infinito.
São coisas em que no fim fico pensando à toa quanto estou em casa sozinho. Sinto que elas são quase vulgares, ou mesmo vulgares, tanto que já foram sentidas e ditas. O que nunca é vulgar — e aqui está o misterioso poder da natureza — é o objeto de arte em si mesmo, a curva de um ombro mais forte que a outra, o traço um pouco mais alto de um olho esquerdo sobre o direito, um nada qualquer que em si mesmo não diz nada e, entretanto, sugere o misterioso clima da beleza.
Dezembro, 1990