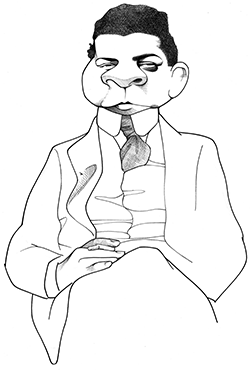Dentre os episódios da revolta de 93, assistidos por mim, aquele que mais me impressionou foi sem dúvida o desembarque dos revoltosos no Galeão, Ilha do Governador, onde minha família morava, em virtude do cargo que meu pai exercia por aquele tempo. Era ele então almoxarife das Colônias de Alienados que, como se sabe, estavam e ainda estão naquela ilha. Eu tinha 12 anos e acabava de chegar do colégio onde era interno, depois de uma longa viagem de trem, pois começava naquele ano os meus preparatórios no Liceu Popular, em Niterói. É da memória dos contemporâneos que as comunicações por mar entre o Rio e aquela cidade ficaram logo interrompidas no começo do levante, de forma que, para ir buscar-me, meu pai teve que dar uma imensa volta, saltando de trem em trem, vendo rios e cidadinhas sem conta.
O Liceu fora dirigido por Mr William Cunditt, um hábil educador inglês e conhecedor dessa especialidade de ensinar meninos como todos os ingleses; mas, vindo ele a falecer, sua filha, Miss Annie, de quem tenho gratas recordações, tomou conta do colégio e foi sob a sua direção que fui aprovado em perto de seis preparatórios. Bem. Com meu pai, depois de uma fatigante viagem de 24 horas, desembarquei na Central às nove horas da noite, dormi na cidade; e, para chegar em casa, ainda tive que ir da estrada de ferro até a parada da Olaria, da Estrada de Ferro Leopoldina, nas proximidades da Penha, andar a pé cerca de um quilômetro, tomar um bote no chamado porto de Maria Angu, desembarcar na ponta do Galeão, montar a cavalo e a cavalo percorrer cerca de três quilômetros, para chegar afinal na residência de minha família.
A minha casa era uma velha habitação roceira, vasta e cômoda, com grandes salas e amplos quartos, de um plano simples e tosco, de modo que o seu ingênuo arquiteto lhe tinha dado certo conforto, mas lhe tirara muita luz da sala de jantar.
Mas o encanto maior da habitação estava no sítio que a cercava. Tinha de frente cerca de 400 metros de um bambual cerrado e verde que suspirava quando de tarde a viração soprava do mar. De fundo, possuía cerca de 800 metros e toda a sua área era coberta de capoeirões e cheio de formigueiros, que permitiam a custo qualquer cultura e, das fruteiras, só deixavam medrar os cajueiros que eram o orgulho da minha residência. Nunca os vi tão belos e talvez nunca mais chupe cajus tão doces com tanta volúpia.
Além da casa propriamente, havia outras dependências; e, na “casa de farinha”, ainda encontramos o cocho, o tacho, a roda, o tipiti, todos os apetrechos para transformar a mandioca nesse pó que forma, com o feijão e a carne-seca, a base da alimentação nacional.
Se bem que possa parecer exagerado, no sítio que me animo a chamar meu, havia uma fauna bem regular. Vi e cacei quatis, tatus, lagartos e até filhotes de jacarés apanhamos na borda do poço de casa, por ocasião de uma seca atroz.
Vieram certamente de um riacho que passava quase ao meio do sítio, riacho esse que esgotava um grande pântano que existia nos fundos das terras de nossa moradia.
Saía eu a armar toda a espécie de laços, arapucas, esparrelas, quebra-cabeças, mundéus e, com meus irmãos, prendi juritis, sanhaços, tiês, rolas, frangos-d’água, saracuras, sanãs, etc.
As Colônias estão estabelecidas em terras dos frades de São Bento e até uma delas fica mesmo no antigo mosteiro que se alonga a meia encosta de uma colina, olhando o nascente.
A minha casa ocupava um retalho da antiga fazenda dos monges e a sua história se misturava com a dos amores de um frade – coisa que não é raro por lá para diversas habitações.
Cheguei em casa, como lhes contava, e logo tratei dos meus pássaros, dos meus laços, pouco se me dando com o duelo que se fazia de terra para o mar e do mar para terra, a tiros de canhão e de carabina.
Meu pai, meu grande e infeliz pai, era dos funcionários da administração superior o único que tinha permanecido na ilha. O diretor, o médico, o escriturário se haviam retirado para a cidade.
O Senhor Ernesto Sena, que se picava de historiógrafo no Jornal do Comércio, tratando das Colônias, nos dias de revolta, chamou a meu pai de “Fuão” Barreto. Não sei se havia entre eles qualquer desavença, mas o certo é que o que se deve exigir de um historiógrafo é a exatidão dos fatos, das datas e dos nomes e um funcionário público, como meu pai era, tem o seu nome inscrito em registros oficiais e em certos atos públicos. Era só consultá-los para lhe saber o nome.
Mas passemos...
Estava eu assim descuidado quando, uma manhã, aí pelas oito horas, meu pai mandou-me chamar à Colônia de São Bento, que ficava nas proximidades. Ele, meu pai, tomava café bem cedo e corria à Colônia para ver e superintender os serviços que lhe eram afetos, de modo que, às oito horas da manhã, já precisava mandar chamar-me ao estabelecimento.
Veio buscar-me o José da Costa, que ainda está vivo. Este José, ou antes, Zé da Costa, era nas Colônias tudo: cocheiro, carpinteiro, catraieiro e foi sempre doce e bom para mim.
Agora, com lágrimas nos olhos, lembro-me dele quando, aos sábados, ia buscar-me no colégio, naqueles dias ansiosos e satisfeitos de minha meninice, isenta ainda de qualquer visão amarga do mundo e do desespero do meu próprio destino.
Zé da Costa não me disse qual o motivo do chamado e, ao chegar no sopé da colina em que se erguia o velho convento, bem em frente da ladeira que subia para a modesta capela sem fiéis, quase no centro da edificação, deparei armas ensarilhadas, uma porção de marinheiros e meu pai metido entre todo aquele apresto militar e guerreiro.
Entre os marinheiros, imediatamente reconheci o “Piche” – um preto moço que, asilado nas Colônias, fugira e se fizera fuzileiro naval. Falei-lhe satisfeito e alegre, pois o “Piche” me ensinara a armar alçapões e dar nome aos pássaros. Fora boa a entrada.
Não me espantei e olhei tudo aquilo serenamente, tanto mais sereno quanto meu pai me parecia calmo e não correr perigo algum.
Hoje é que sinto bem de que forma malvada podiam interpretar aquela sua recepção e o motivo do meu chamamento.
Temendo que lhe fizessem qualquer violência, ele queria com a minha presença enternecer o comandante da força.
Não houve, porém, nenhuma violência. Comandava o destacamento o Senhor Eliézer Tavares, creio que capitão-tenente naquela época, e era seu imediato o doutor Nogueira da Gama, julgo que cirurgião-dentista, mas os azares da luta civil tinham-lhe dado um posto militar.
Meu pai apresentou-me a ambos e eu estive ali, no meio de marinheiros, a olhar curioso as carabinas sombrias e as baionetas reluzentes.
O doutor Nogueira da Gama mandou buscar fumo na venda mais próxima, pagou-o ele mesmo; e ali, no chão, curvado, segurando a espada com a mão esquerda, distribuiu-o aos seus subordinados, debaixo de ordem difícil de se supor entre amotinados.
Meu pai e o comandante da força subiram ao mosteiro para tratar lá dos negócios que o interessavam.
Soube mais tarde que se tratou no momento de passar o Senhor Comandante Eliézer recibo dos objetos que ele queria retirar das Colônias: roupas, gêneros, medicamentos, etc.
Enquanto isso, continuava eu entre marinheiros, conversando com um e com outro, desejoso até que um deles me ensinasse o manejo de uma carabina. Tinha então admiração pelas armas de fogo...
O local em que a força tinha acampado, ficava debaixo de algumas touceiras de taquaruçus e o verde dos que amadureciam, e o amarelo dos maduros, junto daquelas espingardas, lembraram-me vivamente as cores da nossa bandeira.
Desceram, meu pai e o comandante. De repente, eu vejo ser tirado do curral o “Estrela”, um velho boi de carro, negro, com uma mancha branca na testa. O “Estrela” fazia junta com o “Moreno”, um outro boi negro; e ambos, além de carreiros, lavravam também.
Foi o boi conduzido para junto da estrebaria e vi que um marinheiro, de machado em punho, o enfrentava e ia desfechar-lhe um golpe na cabeça.
Tive a visão rápida dos seus serviços e dos seus préstimos, pois era de ver a paciência, a resignação do “Estrela”, quando, atrelado com o seu companheiro de junta, cavavam, com auxílio do arado, na encosta íngreme do morro, por detrás do convento, fundos sulcos que iam receber as manivas dos aipins e a rama da batata-doce.
A vista era daí soberba – toda a parte anterior da Guanabara, o Corcovado, as fortalezas, o zimbório da Candelária, a barra, o mar sem fim, a cidade inteira entre verdura e dourada pelo sol do poente...
“Estrela”, porém, não via nada daquilo. Sob o aguilhão do condutor, cavava resignadamente, docemente, tristemente, os sulcos no barro duro, para fazer render mais as sementes que a terra ia receber.
Quando vi que o iam matar, não me despedi de ninguém. Corri para casa, sem olhar para trás.