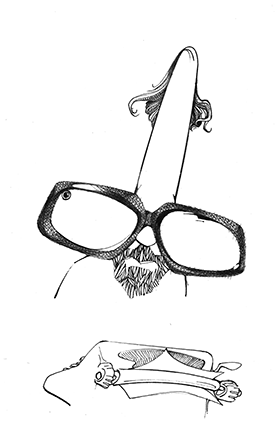Fonte: Caderno B, coluna "O homem e a fábula", Jornal do Brasil, de 20/09/1964.
Escrevo numa sexta-feira cinzenta, enquanto a temperatura cai violentamente. Estou gripado; dói-me a garganta. Mas é a minha consciência que sofre; alguma coisa está errada, alguma coisa está podre e o fedor envenena a minha consciência. Oficiais e soldados do exército invadiram algumas residências, entre elas a do meu amigo Ferreira Gullar. Algum dia escreverei, talvez, um livro sobre esta amizade sujeita a chuvas e trovoadas, desde que nos conhecemos, há 12 anos, numa pobre pensão do Catete. Estamos ligados, Gullar e eu, por uma série de divergências irreconciliáveis. Creio que nunca, nesses 12 anos, pudemos trocar ideias ou simplesmente ficar em silêncio em torno de uma dose de uísque. Sempre foi necessário que os meus pensamentos entrassem em choque com os dele; foi sempre imperioso abrir o jogo. E, quando ele entrou na política, embora concordasse com os seus objetivos — será preciso esconder, nesta hora sombria, que simpatizo irresistivelmente com a causa socialista? — discordava em determinados pontos bastante controvertidos, como por exemplo: o direito que o indivíduo tem de ficar à margem, o lugar da arte, a beleza do nada... Desde 1961 os nossos contatos se tornaram raros; e, quando nos encontrávamos, não nos reconhecíamos. Cada um se batizara à sua própria semelhança; cada um era um outro. Minha admiração, contudo, continua intacta — pela inteligência genuína, a aguda sensibilidade, a honestidade erguida a uma altura quase brutal, que fazem de Ferreira Gullar uma das mais fortes personalidades que me foi dado conhecer.
De modo que recebo como uma bofetada a notícia da invasão de seu lar. Sua mulher, essa maravilhosa Teresa, não estava; ele também não estava. Penso então nos meus três sobrinhos, Luciana, Paulinho e Marcos, no momento em que veem entrar pela casa adentro os emissários do tenente-coronel Andrada Serpa. A casa é revistada, alguns objetos se quebram. As crianças ali estão, atônitas, amedrontadas, temendo certamente pela sorte dos pais — como diria um psicólogo: vivenciando o abandono dos pais, como se estes houvessem renunciado a protegê-los. Isto, em Ipanema, à luz do dia e perante a consciência brasileira.
Francamente, é demais. Não posso assistir indiferente a essas indignidades. Se há torturas, e aqueles que delas são informados protestam, fico quieto, apreciando o desenrolar dos acontecimentos; paralelamente continuam em discussão os problemas individuais, morais e sentimentais da classe média, da qual desejo ser intérprete neste cantinho de jornal. Tenho uma ligação profundamente dramática com a maioria dos meus leitores. Pelas cartas que escrevem, tomo conhecimento dos problemas que os afligem — o problema da solidão, o encontro do homem com a mulher, a existência pessoal enfim — e, na medida do possível, examino apenas esses problemas.
Mas estou perdendo a paciência. Vejo que se produzem fatos constrangedores, todos os dias, e me pergunto se não será por covardia que silencio sobre eles.