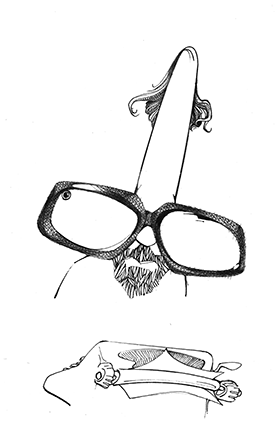Um dia e uma noite em Lisboa por conta da companhia aérea. Deu para andar nas ruas frias e de céu chumbeado. Por volta de dez horas, um sol tépido, mas radioso clareou os sobrados amarelos nos quais diligentes matronas, vestidas de preto, penduravam roupas a secar em quaradouros improvisados em suas varandinhas. Nas ruas, os homens caminharam de cenho franzido, agasalhados em capotes escuros e com chapéus escuros à cabeça. Só as crianças, com suéteres e gorros coloridos, davam um toque alegre à paisagem. De noite, ao luar, erguia-se na colina o soberbo Castelo de São Jorge, que não me apeteceu visitar. Uma intuição de ditadura mesquinha, de cochichos junto ao poste, a sensação de caminhar entre seres antes amedrontados que caracteristicamente enfadonhos, além da cena vista num café de mesas na calçada — quando agentes da PIDE encapotados apanharam à força um bebedor de cerveja e o lançaram dentro de um carro negro — esses sinais evidentes de uma sociedade reprimida pelo ditador puritano e sovina, me tiraram o gosto de andar nos lugares onde outrora zanzou Fernando Pessoa. Aquilo parecia eterno, aquela mesmidão cinzenta e resmungante já durada uma eternidade e me ocorreu que nunca poderia visitar Portugal como se deve, sem medo de estar sendo espionado ou, o que é pior, de tomar atitudes e dizer palavras que poderiam sugerir fosse eu um provocador. Em resumo, Lisboa estava sufocante, fui para o hotel ler um livro e almocei um delicioso haddock na brasa com batatas cozidas.
Finalmente o avião subiu e Paris veio vindo sob o azulado colchão de nuvens. Pegamos uma tempestade, a aeronave quicava no bojo gordo e estalactante dessas nuvens, e pelo alto-falante o piloto anunciou que Paris... nada feito! — Desceríamos dentro de 40 minutos em Nice. Me serviram uma dose de uísque e aceitei, tranquilo, mais esse contratempo. Depois de passear em Lisboa, poderia andar um pouco também em Nice, quem sabe? Não tinha pressa. Além do mais, se a memória não mentia, em Nice o meu dileto mestre Nietzche passara uma temporada, entre tantas cidades nas quais esse grande homem de saúde frágil fora recuperar energias e continuar aquela meditação soturna, entretanto luminosa, que o conduziria finalmente à loucura. Qualquer lugar onde houvesse passado Nietsche me agradava. Mas descemos no aeroporto e fomos conduzidos sem tardança a outro avião, este da Air France, que nos levaria rapidamente a Paris.
A bordo, os passageiros eram europeus. Sentei-me entre um senhor de moustaches grisalhos e uma senhora de joelhos redondos e loirinhos. Quis fumar e tive que pedir licença. Engrolei um francês incompreensível, gago, ruborizado: eu sabia ler Montaigne, Sthendal, Albert Camus, negócio de viajar escrito, não era máquina de dizer tolices tais como “dá licença de usar seu cinzeiro”? Entretanto, meu gesto não deixava dúvida a respeito de minha intenção, de forma que Madame Joli Joelho, afastando o braço da poltrona, respondeu: “Mais oui, m’ssieu”! Trêmulo (minha cabeça roçava seu decotado seio, era cheirosa!), demorei a amassar o cigarro no cinzeiro embutido na poltrona. Ao terminar, gemi: “Merci”. “Et voilà!”, disse ela.
Logo, aquele brasileiro tímido se transformaria no mais audacioso paquerador bilíngue jamais visto sobre as nuvens. Quando descemos em Orly, éramos amiguinhos. O homem que ia junto da janelinha só então se revelou marido dela, porém civilizado, parecendo me agradecer o fato de haver entabulado uma conversação de tal modo animada com sua joelhística senhora. Deixei que avançassem no corredor, colocando entre nós quatro ou cinco desconhecidos, e só então comecei a tremer de alegria, vergonha e medo. Descobri, nessa hora, que tremer feito vara verde não é força de expressão. Ufa! Eu decididamente não tinha juízo.