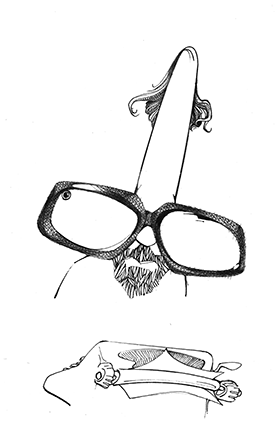Fonte: Caderno B, coluna O Homem e a Fábula", Jornal do Brasil, de 16/01/1960.
Em 1893, em Diamantina, MG, por sugestão de seu pai, uma menina de 13 anos inicia um diário. No último dia de 1895, redige sua última impressão. Não há motivo a não ser o mais simples: ela não quer mais escrever. 50 anos depois, em 1942, a Livraria José Olímpio Editora publicava Minha vida de menina, contendo os cadernos de adolescência de Helena Morley. Georges Bernanos exclama: Genial!
Talvez não haja outra palavra para exprimir o choque que nos causa a leitura desse volume singular, ou então devemos imitar a avó da autora, que assim exorcizava os grandes acontecimentos: “Forte coisa”! De fato — forte coisa! Travamos conhecimento com uma adolescente normal, cheia de belos sentimentos, mas ao mesmo tempo dotada duma argúcia e duma honestidade extraordinárias. Desde que se dispôs a anotar o que se passa a seu redor, ela não hesita em guardar no diário aquilo que, para os seus, constitui uma blasfêmia. Escreve, a propósito do diálogo que manteve com um tipo da sua pequena cidade: “Fico até boba de escrever aqui o que ele respondeu e sei que se vovó souber vai se zangar comigo. Mas que hei de fazer, se ele falou assim”? Ela é fiel à vida; e este é o segredo da sua força; mas não é este o segredo de toda literatura?
Helena confessa várias vezes que não perde “conversa de gente grande”. Aqui, o mistério que justifica a alusão a Rimbaud, feita por Bernanos, a propósito do diário. Ela tem consciência do material: inutilmente procuramos frivolidades em suas anotações; inutilmente tentamos descobrir os deslizes próprios da idade, as crises sentimentais, os sonhos descontrolados: o que encontramos é uma garota grave, sem vaidade ou orgulho, adolescente, sim, porque submete a realidade a uma fricção com o seu temperamento — e esse temperamento é de criança; sua visão do mundo é uma visão infantil, mas ela vê o mundo. Ela se vê no mundo com o sentimento de que é uma criança, e aceita a existência da gente grande e, muitas vezes, denuncia o que não lhe parece justo nas ações e palavras dos mais dos mais velhos; aqui, o encanto, o perfume inigualável do seu diário; mas acima disso está a sua perícia verbal a mostrar que o espírito não tem idade e que ele sopra onde quer.
Confirmando a simplicidade de sua renúncia não há no diário uma única anotação revelando o seu encontro com própria vocação; nunca lhe passou pela cabeça que pudesse vir a ser uma escritora, ou que suas anotações fossem literatura. Mas ao mesmo tempo não há uma página que não tenha sido escrita por um verdadeiro escritor, no sentido de que a verdade é sempre considerada antes e acima das conveniências — a vida clinicamente considerada, se posso dizer; assim, em página de grande beleza, ela se contempla a si mesma como se fosse outra pessoa:
“Quinta-feira, 24 de agosto (1893). — Hoje cheguei em casa tão diferente que Renato foi me olhando e dizendo: ‘Olha a cara dela’! Luizinha que é melhor mil vezes do que ele, disse: ‘Como você ficou bonita, Helena! Quem te arranjou assim’? Eu respondi: ‘Foi Ester’. Conversando com elas na pedreira eu disse que sabia que era feia, mas não me incomodava porque mãe Tina me criou sabendo que ‘o feio véve, o bonito véve, todos vévem’. Quando eu disse que era feia, Ester exclamou: ‘Você feia? Deixe-me arranjá-la e você verá’. Consenti, ela pegou na tesoura e cortou-me o topete, penteou-me, depois me pôs pó-de-arroz, e quando eu olhei no espelho vi que não era feia. Elas riram muito quando eu contei o nosso sistema aqui de untar o cabelo com enxúndia de galinha até ficar bem emplastado. Ela me disse que lavasse os cabelos, depois anelasse e fosse lá para me pentear. Que bom eu ter feito amizade com a família de dona Gabriela. Elas são tão boas! Se não fossem elas eu nunca me lembraria de cortar o topete e pentear os cabelos na moda. Ester achou graça de eu lhe contar que mãe Tina dizia que ‘o bonito véve, o feio véve’. Ela disse: verdade, mas o bonito véve melhor’. Como estou hoje feliz de ter ficado bonita”!
Minha vida de menina (o volume que acabo de ler é da 4ª edição, 1958), coloca um problema da máxima importância. Helena Morley não é nem mais sabida, nem mais burra do que as meninas da sua idade e do seu tempo. Não é uma aluna excepcional, e nem ao menos se distingue pelo domínio do vocabulário, uma vez que ela própria nos conta a vergonha que passou na escola quando o professor lhe perguntou qual era o sexo de boneca, e ela, que estava distraída, respondeu: “bonecro macho e bonecra fêmea”.
Por que, então, estas páginas admiráveis, algumas entre as mais emocionantes escritas no Brasil? A resposta é: temperamento, nervos. O escritor, e última prova quem no-la deu foi Nabokov, é simplesmente cidadão que diz “eu gosto”, “eu não gosto”. He- lena Morley fez simplesmente isso, descreveu os dias, as coisas, registrou seus pensamentos, anotou com fidelidade os costumes ingênuos, os dramas ignorados de Diamantina. Ela confessa que escrever é a única “coisa que consegue fazer sem prestar atenção”. O mais imediato evocado da maneira mais efêmera: eis aqui a literatura. O resto é... literatura! Parece brincadeira, mas este é o mais grave dilema dos nossos dias.
Quando Drummond descreve a luta vã que trava com as palavras, minha vocação para a existência me afasta dele. Drummond é um escritor; a sua mais alta aspiração — e mais coerente, é verdade, já que ele quer ser um escritor — é atingir a mais alta perícia. Quanto a mim, “je suis du côté de la mort”: escolho a antiliteratura — a IMPERÍCIA CONTUMAZ —, o acaso, a dificuldade, a incerteza, o absurdo, a consciência da inutilidade.
A mim me parece claro o silêncio de Helena Morley. Escrever é viver; escrever ou viver são a mesma coisa. Escrever não é exercer a vida na sua mais alta categoria porque não existem diferentes categorias do vivo, do estar vivo. A adolescente de Diamantina nos fins do século passado transpirava; respirava; escrevia respirando, transpirando, sendo, de tal forma que o ato de escrever o seu diário, todos dias, era um ato completo em si, amplamente satisfatório. Depois: escrever ou não? Pouco importa. O drama começa quando o ato se distingue dos outros gestos nossos, assumindo prestígio inesperado em relação ao estar vivo das outras pessoas. “Escrever — diz você — custe o que custar”. A vida mesma passa a ser uma coisa secundária. Quanta infelicidade!
Helena, minha irmãzinha, que hoje és uma ilustre matrona, mãe e avó: não apenas te compreendo como reivindico, para o teu silêncio, os direitos da máxima autenticidade.