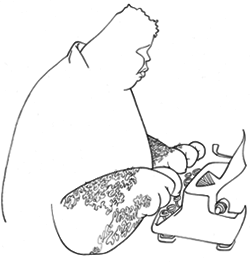Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil,Todavia, 2021, pp.255-257. Publicada, originalmente, na Manchete, de 24//01/1953.
Começa que todo jardim é botânico. É por aqui é que moram todas as cigarras do Rio, as de Olegário inclusive, sem hora para cantar, cantar, até chatear. Começam modestamente, num “nham-nham-nham” de carro que não quer pegar e, depois, engrenam a prise do seu canto agudo, vertical, que chega à mata e volta de lá, repetido, com certeza, por milhares de outras, colocadas em distâncias certas, revezando-se para que a música não cesse. De começo, a gente fica meio deslumbrado com o bem de ter cigarras assim, tão à mão. Mas, depois, vai enjoando e deseja que o inverno chegue logo para molhar as asas das bichas e parar seu coral. Nunca ouvi falar de cigarras tão sem cerimônia. Entram de casa adentro e cantam nas cortinas como se estivessem na intimidade do seu mato. As crianças adoram e não há uma que não tenha a sua, amarrada numa linha, morrendo e cantando, cantando e morrendo.
Além das cigarras, acontece muito pouca coisa no Jardim Botânico. São casas de morar e uma minoria de edifícios de vida sossegada, em cujas portas a gente não vê, como é freqüente em Copacabana, ambulâncias, rabecões ou carros da radiopatrulha. Nas calçadas brincam meninos sardentos (quase todos são americanos), com óculos de miopia e falam inglês aos gritos, forjando intrigas e vivendo histórias de mocinho e bandido. Usam aquelas calças azuis da Sears e fazem seu inferninho nas ruas transversais, correndo risco de vida, de vez em quando, quando entra um automóvel desembandeirado, sem buzinar.
Sou novo no bairro e faço uma grande confusão entre o Jardim Botânico e a casa de Besanzoni. Ambas são moradias de muito muro e, às vezes, dão impressão de casa mal-assombrada. No Jardim Botânico não acontece nada além da árvore da primavera, que bota uma flor em setembro para o Braga escrever uma crônica e viver, por longo tempo, dos comentários que desperta. Na casa da Besanzoni, a gente passa e nunca vê a dona pelos jardins, fazendo show de juventude, como nas reportagens do Nasser. A impressão é que o mato vai comer tudo e não demora muito.
Aqui, anoitece à música das cigarras. O Cristo, que é visto de costas, fica iluminado e, de vez em quando, puxa uma nuvenzinha e se cobre. Em volta da lagoa, as lâmpadas têm luz triste e, em conjunto, não parecem dentadura, como as de Copacabana. O grande movimento vem da Ponte de Tábuas, onde existem alguns botequins de uma porta, mercearias que fecham tarde, bancas de jornais e umas duas farmácias. Sobem automóveis, na rua à direita, que é caminho para a Vista Chinesa, Mesa do Imperador e outros lugares de namorar. Na hípica, em certas noites, há umas reuniões que mantêm um alto-falante ligado por horas e mais horas, com um cidadão dizendo números e algumas frases que a gente nunca entende. Fartura de lotações, ônibus e táxis, indo e vindo no caminho do Leblon e da Gávea. Por aqui, ninguém se lembrou de abrir um restaurante ou churrascaria. Quem é do lugar come em casa ou vai para o Leblon, de camisa esporte, alpercatas, mulher a tiracolo e passa mal por lá mesmo.
O Largo dos Leões foi minha decepção de 1940. O nome encheu meu pensamento durante um tempão, até à noite em que vim espiar uma namorada feia – não havia largo nem leões. O lugar não oferecia o menor conforto aos namorados, obrigando-os a tomar o caminho da lagoa e ficar por ali, pelos bancos, aos abraços, até chegar um homem mal-encarado, dizer-se da polícia e levar alguns trocados. Naquela época, não havia a moral padilhiana e a noite pertencia a todos, aos pegas de todos, nos lugares ermos e silenciosos do Rio. Nem para isso o Largo dos Leões servia. Nem para tirar retrato e mandar com dedicatória aos amigos que ficaram no Recife. Treze anos passaram e tudo ficou como era – feio, triste, despovoado.
Quando é de manhã, pela janela, a gente começa a ver um homem, com um martelinho, batendo pedra. É um hino à persistência. Entra dia, chega noite e lá está ele com a sua batidinha de sineta, a serviço não sei de quem, tengo-tengo-tengo. Faço meus cálculos de antigo trabalhador do campo, meço a montanha com os olhos, conto as marteladas de um minuto e chego à conclusão de que, batendo assim, daqui a 20 anos, o moço derruba o Cristo. Antes disso, porém, derrubará a mim e a todos os condenados ao tengo-tengo-tengo desse martelinho que bate, sem parar, nove horas por dia. São os barulhinhos do Jardim Botânico – o que é que a gente vai fazer?
Enquanto bato esta crônica, num fôlego só, as cigarras voltaram a fazer misérias. Gostaria de amá-las e escrever melhor por causa delas. Mas, não. É uma nota só, é um apito. Daqui a pouco vem uma e, como uma louca, entra pela janela. Cantará juntinho de mim, no meu pé de ouvido, como quem está fazendo teste para o rádio.
Cigarra só é bom cantando longe, porque aí é mesmo “saudade de antigas ressonâncias”. Mas, no Jardim Botânico, se a gente deixar, elas entram no ouvido.