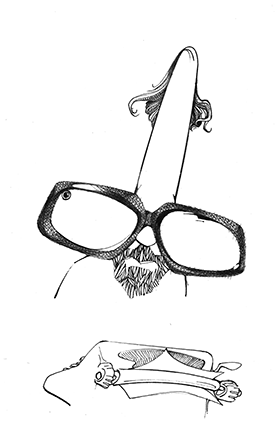Fonte: Caderno B, Jornal do Brasil, de 4/08/1974.
Folheando um livro meu, que se perdera nas mãos de um amigo já lá se vão oito anos, e que reencontrei por acaso na livraria do José Saenz, surpreendeu-me a constância com que mergulho na amargura e no pessimismo.
Mesmo as canções de amor são tristes e o desfecho de tantas festas se mostra invariavelmente melancólico. Será por isso, certamente, que em minha correspondência há quase só cartas dramáticas. São os leitores solidários nessa imperturbável solidão — eles que me consolam confessando: “Somos iguais a você”.
Vive lá em casa, atualmente, um bebê cujo crescimento tenho observado. Está com 14 meses de idade, é gorduchinha, esperta, tem olhos azuis e cabelos encaracolados. Já anda e pronuncia algumas palavras: “luz”, por exemplo. Vai andando, cambaleante, rápida, por toda a casa, pegando em tudo — principalmente apanhando na estante um volume das obras completas do Padre Vieira, abrindo-o e fingindo que já sabe ler. Pois bem, enquanto a observo, enquanto trocamos risos durante aquelas brincadeiras que as crianças tanto apreciam, ainda assim há qualquer coisa no meu coração cujo nome seria tristeza alegre. Nosso amigo Murilo, embora compartilhe desse sentimento, prefere interpretá-lo como premonição catastrófica. Apontando a menina, ele me adverte, não com sarcasmo, mas com um sorriso sem ilusões:
— Hitler também era assim, um bebê bonitinho, gorduchinho. Depois cresceu e você viu o resultado…
Não exageremos: Hitler seria uma dose para cavalo. Se depender de mim — e ela tem um temperamento bastante agradável — o que ela vai ser é a boneca querida do Leblon, neta do jornaleiro, sobrinha dos frequentadores de Le Coin, amiguinha de bancárias, comerciárias e domésticas, que todas lhe fazem festas e lhe dão presentes. Grande família, essa — dois quarteirões de ternura — na qual ela já foi introduzida. Gosto de prever um pequeno futuro para essa criaturinha tão meiga, que quase não chora, está sempre rindo às gargalhadas, e de manhã, estando eu mal acordado, já me traz os meus sapatos, insinuando nesse gesto que é hora de eu sair à rua.
Ela será a molequinha predileta do bairro, a princesinha estabanada, que pega e põe na boca todo objeto no qual esbarra. Rebelde, ainda por cima: a gente fala “não, não faça isso”, e ela faz justamente o que se proíbe que faça. Já empurrou a televisão para vê-la desabar no chão com estrondo; já arranhou irremediavelmente dois discos, os mais amados lá em casa: Bach e Vivaldi. Agora deu para comer terra e roer tijolo; está com vermes.
Quantos sustos esperam o bebê no curso do seu aprendizado, a partir do instante em que souber fazer perguntas... O mundo está aí, espetáculo deslumbrante, e para dentro dele ela avança resoluta, isenta de medo. Para me tranquilizar, pois é inquietante ver crescer uma criança, leio um trecho de R. D. Laing:
“... de cada vez que nasce uma criança há uma possibilidade de redenção. Cada criança é um ser novo, um profeta potencial, um novo príncipe, uma nova faísca que rebenta nas trevas exteriores. Como se poderá dizer que já não há lugar para a esperança?”
Lá está ela: profetisa, princesa, faísca, dando uma cabeçada na quina da mesa e ficando com os olhinhos cheios de lágrimas... Ela merece a construção de um mundo feliz — mundo em que a melancolia não lhe venha acrescida de algum sentimento sujo — não só a melancolia castiça, que dói como o perfume que ainda não identificamos, e que chega mansa, bem-vinda, por causa do luar, por causa da ventania...