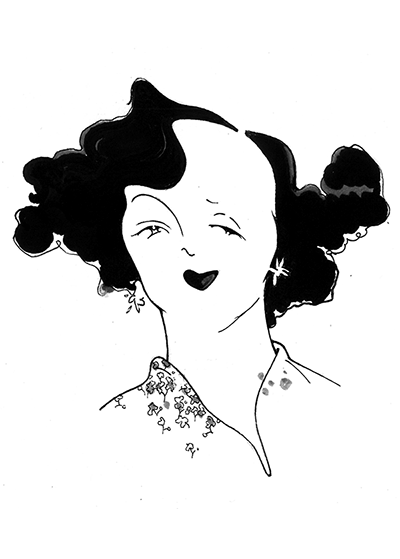Depois dos anos em que tomei forma, em que cresci, amei, casei, criei filha e me fiz escritora, eis que volto ao paraíso, aquele céu que é a infância, e para o qual decerto voltaremos todos, no dia final. Existe uma casa em São Paulo ― rua Piauí, 36 ― onde o respeito humano vigia, e sentou guarda: todas as vezes que vou à minha terra tenho vontade de me apresentar diante da grade daquele jardim, bater palmas e dizer:
― Dá licença de entrar?
Se eu vencesse o anjo de espada de fogo, talvez me libertasse desse complexo. Quem sabe se eu, abrindo a porta do paraíso da minha infância, visse tudo feio e acanhado, sujo, envelhecido, me voltasse de braços abertos para o cenário do presente! Mas sei que não terei coragem.
― Perdão, que quer a senhora?
― Nada. Eu morei aqui há muitos, muitos anos; era uma criança. Só quero ver…
Ninguém amou aquela casa, feita por um grande arquiteto paulista ― Augusto Severo ― tanto quanto eu. Mamãe a trocou por outra, de coração leve. Mas, ainda esta noite, me pus lá. Convidavam-me para entrar, os donos desconhecidos e eu, boiando na leveza dos sonhos, fazia festas aos móveis, ao terraço de pastilhas brancas e pretas, ao jardim de inverno, todo de vitrais, pondo no centro da casa uma clareira verde, de pura magia. Havia lá umas begônias lindas e avencas, e uma prateleira de vime com plantas que se formavam no quintal: o terreno era em forma de L e avançava sobre os fundos do jardim vizinho. Era nesse canto que se situava a horta, a casa dos empregados. Para lá fugia eu para comer uns bolinhos de farinha assados na brasa, e tomar caldo verde feito pela portuguesa, mulher do caseiro.
Do fundo desse jardim, hoje de sonho, foi que nasci para a gravidade das relações humanas:
― Dinazinha, vem cá, vem cá, meu bem! ― dizia, descendo de um automóvel altíssimo uma senhora elegante.
Ia eu correndo, abrir o portão, quando a voz, só nesse instante, severa, de minha mãe, ordenou:
― Volte!
A senhora ficou esperando. Ninguém lhe abriu o portão. Vi-a, afanosa, emocionada, voltar ao automóvel. Depois, mamãe me explicou que aquela era uma pessoa má e intrigante, e que jamais seria recebida em nossa casa.
Disse que fazia festas aos móveis:
“Como tudo ainda está na moda!” ― imaginava no sonho, caminhando sem rumor entre esguios móveis escuros.
Claro que defendia o meu paraíso, posto de lado, para que a família se mudasse para um bangalô, que era a última expressão do bom gosto, naquele tempo, e uma casa mais ampla.
Sim, meu espírito visitou a velha casa e até espiou para o escritório, onde surpreendi, num longínquo noivado da prima, os primeiros beijos de amor. Na sala da entrada recebi a visita de meu avô João Silveira, rosado como uma moça, bonito, de rosto liso, trazendo uma caixinha de xarão com bombons.
Havia um quarto, nos fundos, onde, na crise de apendicite, me deitaram. Nessa ocasião, meninos parentes, vindos da Europa, comiam bananas com sofreguidão e jogavam as cascas sob o divã da doente. Comiam, devoravam tudo, como prazenteiros cães humanos. E o menino ― o moreno rapazinho nascido na Itália ― tinha ataques histéricos quando via o copeiro preto:
― L’uomo nero ! ― gritava, apavorado.
Havia a sala de visitas, em estilo Luís XVI, e as cortinas lindas, pesadas, que eram pano de boca de palco, para as minhas brincadeiras com minha irmã e minha prima. Era lá que fazíamos teatro e brigávamos, pois ninguém pretendia ser o indispensável público.
Lá em cima, os quartos. O meu, com dossel de seda, feito quarto de princesinha, de onde, certa noite, saí desatinada:
― Um ladrão! Um ladrão, embaixo da minha cama!
Minha cama tremera, não porque um ladrão a agitasse, mas porque um terremoto abalava São Paulo.
Em meio à sala de jantar e a copa havia um espaço entre duas cortinas verde-escuro. Ali ficava o telefone, que, durante a grande gripe, teve seu papel importante. Todos os dias, pela manhã e à noite, “falava” ― que podiam falar as pequeninas? ― com minha irmã Helena. Disseram-nos depois que ficamos três meses sem sair à rua. Papai, anos mais tarde, contaria casos tenebrosos. Era diretor da Salubridade Pública. Em São Paulo não houvera aquele horror que se passava no Rio: os mortos iam todos em caixões. Lembro-me que fiquei impressionada com o saldo da epidemia: três mil caixões que sobraram ― de gente grande e de criança! São Paulo, dentro da mesma desgraça, dava uma lição de dignidade ao Brasil.
Tanta coisa ficou guardada na rua Piauí, 36! Ali foi que eu soube ― mistérios da vizinhança ― que gente casada também às vezes namora. A grã-fina lindíssima, que morava perto, parecia uma estrela deslumbrante quando recebia, às quintas-feiras, mas toda rua Piauí sabia de seus casos, vindos a mim pela boca da empregada.
Casa onde decorreu minha primeira meninice: jamais esquecerei os carinhos de muito amor e de pouco jeito do Zico, as histórias da tia Aninha, as idas ao Municipal de mamãe, radiosa nos seus vestidos de grande gala, todos em seda francesa ― amarelos, azuis, rosas, com seus barulhinhos macios, ao rodar para mim. Encontrei-me ali com o mistério da morte, pela primeira vez. Na Europa morrera um parente. E ele ali estivera em casa para avisar, segundo tia Aninha.
Esta noite visitei a rua Piauí, 36 ― decerto a casa hoje tem outra numeração... Aliás, que tomem tento seus desconhecidos moradores atuais. Quando morrer, meu fantasma caminhará radiante por aqueles canteiros, irá mergulhar na luz verde do jardim de inverno. O que a viva não faz senão em sonhos, fará a morta em sua liberdade. Será um agrado sem fim:
― Você ainda está na moda ― direi à casa repudiada. Você ainda é a mais bonita. ― E tomarei posse do que me pertence, por direito de amor.