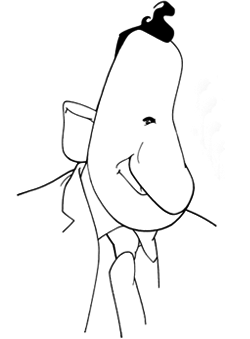Chazinho, velhice e fardão, ou seja, a Academia
Confesso logo de cara: tenho alergia à palavra “acadêmico”. Pior, só “imortal”, que é de um grotesco atroz. A mim me desperta brotoejas na alma. Soa ridícula e me parece um xingamento, para não dizer uma falta de respeito para com a morte, uma das poucas coisas sérias da vida. Aliás, a academia é mais uma vã tentativa de vencer a morte.
Se você quer saber o que é uma academia, pegue o Dicionário de termos literários do Massaud Moisés. Está lá na entrada o segundo verbete da letra “A”: no grego "akademia” designava na origem o local onde Platão inaugurou sua escola filosófica. A academia platônica durou de 387 a.C. a 529 d.C. A partir dessa pioneira e simpática academia, o que não tem faltado no mundo, por toda parte, em todas as sociedades, é academia de todo tipo e jeito.
Ao longo dos séculos e dos espaços, a palavra passou por transformações semânticas e permitiu uma série de desvios e derivações. Tem hoje academia de tudo e pra tudo. Academia de ginástica, de musculação, de atletismo. No Rio, justamente prestigiada, tem a Academia da Cachaça, no Leblon. Dá uma boa combinação de palavras, já que literariamente os extremos se tocam e se apreciam. Juntar o vocábulo nobremente grego à popular aguardente é de fato um achado.
Não sei se ainda se diz acadêmico para estudante de curso superior. Fulano é acadêmico de direito, se dizia coloquialmente no meu tempo de estudante e me soava amável. Diretório acadêmico ainda se usa. No sentido de universitário, acadêmico é também uma palavra bem-vinda: tese acadêmica, seminário acadêmico. Então por que a ojeriza à palavra “acadêmico” para membro ou sócio de uma academia?
Falando disto num grupo de escritores da minha geração, concluímos que fomos alimentados pelo horror da geração que nos precedeu e que remonta a 1922. Na ânsia de modernidade, atirando em todas as direções, havia pelo menos um alvo comum. O academicismo, entendido como forma de acomodação com os padrões convencionais, fechados à inovação, à vanguarda e à pesquisa. No entanto, até o Oswald de Andrade foi candidato à Academia.
Está lá no verbete do Massaud Moisés: “Porque o ingresso nas academias pressupõe obra realizada e, portanto, vários anos de produção intelectual, o vocábulo ‘academia’ e correlatos (‘acadêmico’, ‘academicismo’, etc.) tendem a adquirir sentido pejorativo, ou seja, atitude solene, passadista e convencional”. Pelo que aqui está dito, o sentido depreciativo do vocábulo vem de longe, de muito antes da saudável patuscada 1922.
Se um curioso for relacionar o número de academias que existem só no Brasil, vai encontrar uma lista tão grossa como a dos telefones. E nem se diga que se trata de mania brasileira, ou portuguesa, ou ibérica, com expansão pela América hispânica. Não há país que escape, ainda que as academias mudem de figura, de conceito, de objetivos e de prestígio, segundo a latitude em que estejam situadas e a atividade que desempenham. Fora o Sartre, quem hostilizou a Academia Sueca, a do Prêmio Nobel?
Nem as sociedades ditas revolucionárias, que vieram pra virar de pernas pro ar os valores burgueses, nem essas se livraram do vírus acadêmico. Vejam a extinta União Soviética. Além da Academia de Ciências Soviéticas, tudo lá era, com raras exceções, sufocantemente acadêmico no mau sentido. A começar pelas artes. Cuba, não sei se tem academia. Deve ter. Vou perguntar ao Ziraldo. Se duvidar, o presidente perpétuo deve ser o Fidel Castro que será assim o Austregésilo de Athayde da intrépida ilha.
Tendo citado o Austregésilo, de quem sou eleitor de cabresto, aí está, com as orelhas quentes, a Academia Brasileira, fundada em 1897. Seu modelo confessado foi a “Académie Française” (não tem o restritivo apêndice “de Lettres”), por sua vez fundada oficialmente em 1635 pelo cardeal Richelieu. Os fundadores da Brasileira, a começar por Machado de Assis, presidente, e Joaquim Nabuco, secretário-geral, terão voltado a vista para outras academias, como a Real de Madri e a Academia de Ciências de Lisboa, esta de 1779.
A Academia Brasileira está em recesso, o que vem a calhar no verão carioca. Juntando o verão à Academia, é possível que o leitor pense logo no fardão. Há dois anos, encerrando seu período de adido cultural em Lisboa, João Condé lá publicou, com o patrocínio da embaixada do Brasil e ajuda do embaixador Alberto da Costa e Silva, Recordações de Manuel Bandeira nos arquivos implacáveis. Os arquivos são os do próprio João Condé, verdadeiro museu de literatura.
Fora a bruta saudade que me deu do Manuel Bandeira, gostei de reencontrar o poeta em prosa e verso, além da iconografia, tudo sugerindo uma proximidade que a morte suprimiu. Quando chegou aos 80 anos, Bandeira relacionou as dez coisas de que gostava e as dez que detestava. Cito as detestáveis: “Entrar nas filas em parada de ônibus ou diante de guichês. Mosca. Má pintura. Melancia. Consultas literárias. Blusão de cores vistosas. Café feito com Nescafé. Fruta passada. Vento encanado”. Contou? Sim, só escrevi nove. Deixei a décima coisa detestável para o fim: “O fardão da Academia”.
Manuel Bandeira foi dos primeiros modernistas de 1922 a entrar na Academia. E foi excelente sócio. Solteiro, residia ali perto da Academia e gostava do convívio, vá lá, acadêmico. Do dedo de prosa e do chá. Leiam as crônicas que ele reuniu sob o título Na Academia. Procura até ensinar como deve agir o candidato. Candidato que usa, por exemplo, a palavra “silogeu” está liquidado. Em 1946, o poeta fez uma conferência sobre os 50 anos da Academia. Nada acadêmica, por sinal. No centenário do Mallarmé, em 1942, pronunciou lá uma bela conferência, que é um ensaio de sensibilidade e olho crítico.
Mas o fardão só usou na posse – e nunca mais o envergou. Tristão de Athayde, o crítico do Modernismo, também tinha horror ao fardão. Outros têm manifestado o mesmo bom gosto. O fardão não nasceu com a Academia. Já imaginaram Machado de Assis metido naquela fatiota, de espada e chapéu de plumas? Mesmo em 1897, antes do tênis e da camisa esporte, acho que ele desistia do projeto. O fardão apareceu anos depois. Foi invenção do Medeiros e Albuquerque, quando estava em Paris. Não convém pesquisar muito as razões que o levaram a essa ideia sinistra, mais uma vez copiando a Academia Francesa. Não são muito nobres essas razões.
Por que é que não se acaba com o fardão? Bom, primeiro o fardão não é obrigatório. Nem nas sessões de posse. E há o recurso de deixá-lo na sede da Academia, dando chance a um ladrão de furtá-lo, ou aos ratos de roê-lo. Ao que tudo indica, porém, ladrões e ratos também não gostam do fardão. Como não gostam alguns escritores que admitiriam se candidatar, desde que não houvesse o fardão. É o caso de Antônio Callado. Já Rubem Braga tinha horror ao discurso de posse, quase sempre de fato uma estopada.
Daqui a pouco, em abril, vai haver eleição na Academia. Entre os candidatos inscritos, três embaixadores: Roberto Campos, Sérgio Paulo Rouanet e Alberto da Costa e Silva. Desde a fundação, a Academia não faz política, como está no Machado e no Nabuco. A política fica de fora. Casa de convívio, ainda que a meu ver muito escasso, e cada vez mais difícil pelas imposições da vida atual, a Academia deve acolher igualmente os diferentes, sem cogitar do que pensam política, ideológica e filosoficamente.
A eleição é sempre um mistério, para mim impenetrável. Assim como o fardão não desaparece (dizem que alguns sádicos, depois de o vestirem, fazem questão de impor o suplício aos novatos), também não desaparecem cacoetes e peculiaridades que fazem da Academia uma entidade o seu tanto enigmática e... acadêmica. Em todos os sentidos. A eleição deverá preencher a cadeira nº 13, que pertenceu a Francisco de Assis Barbosa. O voto é secreto e livre, a menos que o eleitor abra mão destas prerrogativas. O resultado por isso mesmo tem sido quase sempre imprevisível. Com três embaixadores no páreo, o pleito ganha em sutileza e discrição e talvez venha a se tornar ainda mais sigiloso e surpreendente. Ou quem sabe diplomaticamente se entendam para a eleição certa de um deles.