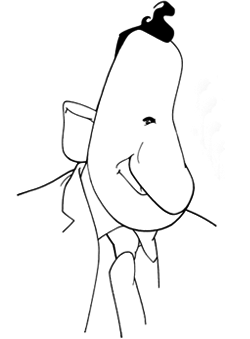Nelson Rodrigues foi desde criancinha homem de jornal. A partir de certa altura, quando começou a publicar suas memórias e confissões, Nelson repetiu sem parar certos lances de sua biografia. Era de fato a flor de obsessão, como ele próprio se definia. O jornal, pode-se dizer, estava no seu berço. Ou no seu sangue, a partir do pai, Mário Rodrigues. Quando o conheci, era já autor de A mulher sem pecado e acabava de estourar com O vestido de noiva, em 1943. Virou uma celebridade nacional. Uma única peça de estrondoso sucesso, ainda que controvertida, apagou o nosso complexo de inferioridade dramatúrgica. Dizia-se que a literatura brasileira em todos os gêneros florescia exuberante de talento e criatividade. Só o teatro tinha ficado pra trás.
Parodiando o Boileau do famoso “enfin, Malherbe vint”, enfim chegou o Nelson Rodrigues. E abafou. Não demorou muito e começou a polêmica em torno de seu êxito e de sua obra. Não tenho dúvida de que o próprio Nelson provocou e alimentou essa polêmica. Para isto, serviu-se do jornal. Não apenas dos jornais em que trabalhava, mas de toda a imprensa, na medida que seu nome passou a ter um eco muito grande. E ele contava com amigos fiéis em toda a redação. Amigos fiéis e inimigos ferozes. Cultivava uns e outros com o mesmo carinho, a pires de leite. Uns e outros, claro, podiam trocar de lado. E trocaram muito.
Só no Brasil, nas circunstâncias do momento em que viveu o Nelson, em que viveu sua geração, pode-se admitir que um autor dramático da sua importância tenha permanecido na mais sufocante tarimba do jornal. Por gosto, por escolha, por fatalidade, por hábito, por um indisfarçável apego à rotina, o Nelson nunca se afastou do dia a dia da redação. Só nos últimos anos, com a saúde abalada e com os jornais em franca transformação, ele modificou o seu estilo de vida. Ainda assim, não largou o jornalismo. Juntou-o à sua intensa atividade na televisão. Assinava três colunas diárias e nunca se recusava a escrever qualquer texto que lhe fosse pedido, sobretudo se dissesse respeito às suas peças e às suas convicções.
Acompanhei o Nelson em várias redações ― no Globo, na Última Hora, na Manchete. Passei pelo O Jornal logo depois que ele lançou no órgão líder dos Diários Associados o folhetim de Suzana Flag. Foi outro sucesso só comparável ao da telenovela de hoje. Antes, com Antônio Callado e Alfredo Machado, depois o vitorioso editor da Record, Nelson tinha passado pelas histórias em quadrinhos do Globo Juvenil. Tendo nascido com um tremendo faro jornalístico, repórter de polícia e repórter esportivo, basicamente de futebol, Nelson tinha o instinto do sucesso popular. Com o rádio e sobretudo com a televisão, a escala ampliada de popularidade não o intimidou. Nelson nadou aí de braçada.
Fora as peças, que podia escrever em casa, quase sempre de um jato, toda a obra do Nelson Rodrigues foi escrita na redação. Escrita e em boa parte elaborada. Ou pensada. Podia dizer vivida. Ao contrário do que se pensou a certa altura e até se espalhou, ele nunca bebeu. Tuberculoso na mocidade, viveu sempre com medo de uma recaída. Não bebia nem água mineral. Água, só de bica ― e ao natural, nunca gelada, como fazia questão de dizer ao garçom. Não conseguiu largar o cigarro, que naquela época não sofria ainda a campanha que veio a sofrer. Fumava Liberty (pronunciado Libertí), ou Yolanda, dos chamados ovais. Fortíssimos.
O cigarro aceso, ou apagado, era seu companheiro inseparável. Chegava cedíssimo à redação, como era costume. Ao Globo eu chegava às seis horas da manhã. Devia ser a hora também do Nelson, se não fosse antes. Além do Globo, tinha o Jornal dos Sports, do seu irmão Mário Filho, inicialmente sócio do Roberto Marinho. O Jornal dos Sports passou depois à família Rodrigues e sobreviveu ao Mário. Nelson era um monstro de trabalho. Jamais dava parte de cansado, por mais que se mostrasse abatido. Os olhos é que nele denunciavam fadiga ou depressão. “Eu sou um triste”, repetia, como um refrão.
Morando na zona norte, Nelson adorava uma carona. Pedia carona com o maior descaramento, para casa, para qualquer lugar e até para São Paulo! Só teve automóvel no fim da vida. Com chofer. Não sabia dirigir e nunca tentou aprender. Detestava avião. Nunca quis viajar ao exterior. Escrevendo à máquina com dois ou quatro dedos, ele cravava um cotovelo na mesa e às vezes mergulhava em longa meditação. Era fluente no texto e nunca atrasava a entrega de um original. Na Última Hora, Samuel Wainer estimulava o seu instinto popular com “A vida como ela é” e toda sorte de matéria de repercussão. Trabalhava full time. Eu chegava às sete horas da manhã e presumo que ele chegasse nessa hora, ou antes. Tomava cafezinho com frequência, sem açúcar. Deixava esfriar e ia tomando aos goles, enquanto trabalhava ou conversava. Falava com todo mundo, de maneira afetiva e muito delicada. Tinha mania de telefone a tal ponto que, se atendia um desconhecido (ou desconhecida), podia engrenar um papo de horas.
Seu original era peculiaríssimo. Aproveitava a lauda de ponta a ponta e quase não deixava espaço entre as linhas. Para emendar, era um problema. Ninguém jamais conseguiu modificar-lhe esses hábitos que vinham da adolescência. A sua obsessão anticomunista, quero crer que se acentuou muito no período da Última Hora, jornal com uma redação majoritariamente de esquerda. Nem por isto o Nelson convivia mal com os colegas. Sempre disposto à discussão, polêmico e provocador, exaltava-se, mas era, como ele próprio dizia, um doce de coco. O companheirismo do jornal foi para ele uma lição de vida. Pouco exigente em matéria de salário, quase nunca trazia dinheiro no bolso. “Venha pagar um café”, convidava. Esse café podia a certa hora ser com canoa, ou seja, pão torrado com muita manteiga. Sofrendo de uma úlcera, não comia nada que lhe fizesse mal, ou que não conhecesse desde a infância. Mas era doido por sanduíches de mortadela e às vezes pedia a um amigo que comesse um para ele... ver. Era assim um autêntico voyeur de sanduíche de mortadela. Foi sempre, arraigadamente, um homem de jornal. Seu sangue cheirava a tinta e sua pele era de papel linha d’água.