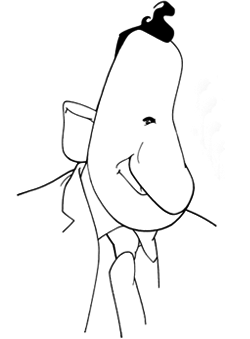Em 1961, Nelson Rodrigues escreveu uma de suas peças mais conhecidas ― Bonitinha, mas ordinária. Depois de duas bombásticas versões cinematográficas, a peça está de novo fazendo sucesso no teatro Glauce Rocha, no Rio. Como e por que entrei nessa história para nunca mais sair. As agruras de ser título e suportar a curiosidade nacional.
Por que o meu nome? Há 30 anos ouço esta pergunta. Há 30 anos disfarço e saio pela tangente. Éramos amigos, digo hoje, quando a pergunta é muito menos frequente do que em 1961, ano em que apareceu a peça. Aliás, a pergunta surgiu antes, assim que apareceu a notícia. Quem a deu em primeira mão foi Darwin Brandão, na sua efêmera coluna do Correio da Manhã. O Nelson Rodrigues lhe disse que estava escrevendo uma peça, mas até aquele momento só tinha o título. O título era o meu nome com todas as letras, inclusive os dois “tt” e o Resende com “s”, como nasci e como me assino.
Título tão insólito na boca de um dramaturgo maldito, a notícia correu mundo. E o meu nome parece que tem visgo. Se bobear, vira chacota nacional. Já uma vez, pouco tempo antes, o Nelson tinha anunciado uma peça chamada O Pompeu. No caso, era o Pompeu de Sousa. A peça nunca foi escrita, mas o título levava o confessado desejo de homenagear o amigo. Claro, havia também, concomitante, o toque de brincadeira, que o Pompeu absorvia sem mágoa e até eufórico. Era de seu temperamento exuberante.
Pompeu esteve entre os que saudaram o Vestido de noiva, na montagem revolucionária de Ziembinski. Isto foi em 1943. Dois anos depois, Nelson escreveu Álbum de família e distribuiu a peça entre os amigos. Pompeu saiu em sua defesa. Mobilizou o Diário Carioca, cuja redação chefiava e modernizava. Estávamos em 1945. Fim da guerra e da ditadura no Brasil. A censura à imprensa tinha saído em fevereiro. Mas Álbum de família foi censurada e censurada ficou por 20 anos.
Nelson mobilizava amizades e admirações em favor do seu teatro. Sem fazer cerimônia, movia céus e terras como viria a contar mais tarde de maneira franca e engraçada. Qualquer um que passasse por perto tinha de se manifestar e escrever a sua opinião favorável. A certa altura, teve um arrufo com o Pompeu. Então desistiu da peça, ou do título O Pompeu. Pouco depois voltou a frequentar o Pompeu e o Diário Carioca, na praça Tiradentes.
Nelson e eu nos víamos nessa época toda manhã na redação do Globo. À noite, eu trabalhava no Diário de Notícias. Num desses milagres que só a ubiquidade juvenil explica, eu ainda achava tempo para escrever assinado no suplemento do Diário Carioca. E lá ia visitar os amigos, a começar pelo Pompeu, com quem vim a trabalhar. No Diário Carioca era comum encontrar o Nelson. Em 1961, ano do fatídico título, já tínhamos, pois, uma longa convivência. Dez anos antes, em 1951, ele e eu nos encontramos na redação da Última Hora.
Aí nossa relação dispunha de mais tempo para o bate-papo no expediente do full time. Falávamos de tudo. E sobre tudo. Das mínimas frivolidades, aos mais altos temas ― o amor, a vida, a morte. Nelson tinha a sua maiêutica. Conversava perguntando. Citava sem cessar os seus autores preferidos e voltava, obsessivo, às suas ideias fixas. Sendo eu, como ele dizia, um dos seus “irmãos íntimos”, não escrevi sobre a polêmica em torno do Álbum de família. E calei sobre as peças que vieram depois, apesar de ter lido todas no original e ter acompanhado ensaios, etc. Curioso é que o Nelson aceitou sem protesto o meu silêncio.
Só agora penso nisso. Deixo esta observação para a análise dos especialistas. Nelson Rodrigues é hoje objeto de estudos e de teses universitárias. Começa a despertar interesse lá fora, no primeiro mundo. Justíssimo. Há pouco tempo, uma tese de doutoramento analisou a obra rodrigueana à luz da doutrina de Freud. Que diria o Nelson, se ainda estivesse aí? Só falta, e por certo virá, uma análise marxista.
Da Última Hora, passamos os dois para a revista Manchete. Até a sua morte, nunca interrompemos o nosso convívio, a não ser nos períodos que passei no exterior. Em 1961, ano da tal peça, nos víamos com regularidade. Compúnhamos um grupo de amigos a que se tinha incorporado o Hélio Pellegrino, de mudança para o Rio nos anos 50, quando teve uma rápida passagem pela Última Hora e depois pelo O Globo.
Foi o Hélio quem mais estimulou o Nelson a levar adiante o projeto de escrever a peça com o meu nome. O clima era de fraterna brincadeira. Com o seu “humor pesaroso”, na expressão de Antônio Callado, o Nelson já revelava nessa altura, também de público, a sua garra de humorista. Provocador nato, ele adorava chuchar a onça com vara curta. Ir contra a corrente. Sua obsessão, sobretudo a partir de 1964, era ser a versão brasileira do solitário “inimigo do povo”, do Ibsen.
De repente, o Nelson apareceu com a peça escrita. Mais um pouco e estava marcada a estreia no teatro da Maison de France. Tancredo Neves era o primeiro-ministro e estranhou o meu nome no cartaz: que é isso? Lá em Minas ninguém vai entender... O Hélio sustentava retórico que era uma prova de admiração e amizade. Só faltava me pedir para pagar o gás neon da fachada. Pois até isto, numa conspiração de amigos... da onça, virou depois piada nos jornais.
Também de repente, a peça ganhou um subtítulo ― Bonitinha, mas ordinária. Veio depois o filme. A primeira versão. Sucesso nacional. Nessa época, passei de avião por várias cidades de Minas. Era descer e logo vinha a pergunta: por que o meu nome? Era eu mesmo? Eu era personagem? Não foi fácil resistir ao cerco e à onda. Não só em Minas, mas no Rio, em São Paulo, em toda parte. Não faltaram vozes para me dizer que era um abuso. Mas naquela altura, que fazer? O homicídio estava capitulado no Código Penal...
Era o que eu próprio dizia ao Nelson, que ainda tentou contar com a minha presença para a promoção da peça e do filme. De lá para cá, são 30 anos. Uma segunda versão cinematográfica quase pôs de lado o meu nome, ou pelo menos reduziria a uma ou duas citações. Na última hora, apareceu o advogado do diabo e convenceu o Nelson de que não podia mexer numa peça que já estava consagrada. Lucélia Santos, talentosíssima, me contou as instruções que o Nelson lhe passava para encarnar o papel da Bonitinha.
Volta e meia o filme está aí, agora também na televisão. Chocante, brutal em algumas cenas, como queria o Nelson, no auge de sua missão de provocador. Atualmente, a peça está mais uma vez em cartaz no Rio, no teatro Glauce Rocha. Sob a direção de Eduardo Wotzik, é um belo trabalho. Fui ver o espetáculo e ainda passei pelo vexame de ter denunciada a minha presença na plateia. Me senti como se me tivessem pregado um rabo de papel... E a coisa piorou de figura. Pois vejam: na ficha técnica, figura o nome de Bruno Lara Resende, meu filho, como “dramaturgista”. A orientação corporal é de Paula Nestorov, minha nora. Dois textos muito bons constam também do programa. Um. “O Falso canalha”, de Jacyan Castilho. O outro, “Um nome em busca de significado”, é do Bruno.
Em 1961, quando me perguntaram qual a razão de meu nome no título, respondi que ao Nelson, autor, é que cabia responder. Ele sempre citou nas suas colunas do jornal um monte de gente de carne e osso. Eu fui obsessivamente citado, dezenas, centenas de vezes. Por quê? Porque o Nelson era uma “flor de obsessão”, como ele próprio disse e repetiu. No volume O reacionário há uma epígrafe assim: “Eu não existiria sem as minhas repetições”. De quem é? Do Nelson.
Com um admirável sense of humour, Nelson desenvolveu e refinou o seu talento de provocador, a que juntou uma forte dimensão de gozador. Ninguém o supera na sátira ou na caricatura. Nem os amigos do seu universo afetivo escapam da sua verve e do seu talento para a pilhéria. Ou mesmo de sua indisfarçável gozação. Nelson jurava que era uma forma de homenagem. Citado como eu fui, e mais o título da peça, não há dúvida de que de todos fui o mais homenageado...
A partir do momento em que admiti enfrentar aqui este assunto, não tive mais sossego. Fui invadido por uma onda de reminiscências que abarcam os 35 anos do meu convívio com o Nelson. Fui também assaltado por um tumulto de emoções contraditórias. Perdi o sono e a paz. Esta pesquisa arqueológica desarruma as minhas gavetas interiores. Vivo ou morto, Nelson Rodrigues é para mim uma presença inquietante. Mal escrevo esta frase, percebo quanto ele gostaria de lê-la. Posso imaginar o que me diria. E não tenho dúvida de que sentiria um prazer a que não faltaria uma nota meio sádica. Alma complexa, a do meu “irmão íntimo”.
E a frase “O mineiro só é solidário no câncer” ― é minha ou não é? A pergunta, muito repetida, é intrigante. Mas é também irrelevante do ponto de vista da peça. O Nelson parece que nada disse sobre a autoria da frase. Ninguém encontrou a fonte de que ela veio. Minas e os mineiros foram, claro, assunto de conversa entre o Nelson e eu. Ele não viajava de avião. Detestava viajar. Mas a Minas foi mais de uma vez, de carro. Me lembro de uma longa conversa que tivemos depois de uma ida a Minas e de que o Nelson tirou o efeito literário que lhe convinha. Mas isto é another story ― e história comprida. E quem sabe até sigilosa. Por hoje chega.