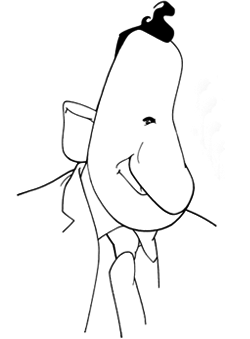Será que o livro se tornou dispensável? Ou é apenas um luxo de meia dúzia de cabeças antigas, que não se adaptam à civilização da imagem? Volta e meia, há uma campanha para divulgar a leitura. É preciso começar cedo, interessar as crianças assim que aprendem a ler. Até onde é verdade o receio de que o livro está destinado a desaparecer? No entanto, nunca se publicaram tantos títulos como hoje. Em todo o mundo e no Brasil também.
Num encontro com um grupo de jovens, como se falasse de escritores, perguntei o que é que eles liam. Ou melhor: o que estavam lendo. Sem o mínimo sinal de constrangimento, a resposta coube numa palavra: nada. Levando adiante a minha curiosidade, verifiquei que nenhum deles tem o hábito da leitura. Estão isentos do “vício impune”, que Valéry usou como epígrafe e lhe é frequentemente creditado, mas que de fato pertence a Logan Pearsall Smith.
Mais do que espantado, me diverti com o que me disseram os rapazes e as moças. Todos universitários. Conhecem uns poucos nomes de escritores, os mais notórios. Títulos de livros, com alguma hesitação, sabem os que estão no cartaz.
A literatura passa longe do seu interesse, ao contrário da música popular, da televisão, do esporte ou do cinema. Falam de tudo com encantadora espontaneidade, mas não são sequer “dependentes” da leitura de jornais e revistas.
Sim, conseguem sair de casa sem lançar uma olhadela num jornal. Se pegam no jornal, é para ver o roteiro do que convém ver, de onde vale a pena ir. São capazes de passar um, dois ou três dias, até mais, sem ler uma única palavra. Tudo me foi dito sem sombra de culpa, ou remorso, com a maior desenvoltura. Não são intelectuais, nem manifestam vocação para as artes e as letras. Nem por isto se trata de um grupo de alienados “inocentes do Leblon”.
Politicamente, têm uma cabeça que se diria arejada e moderna. Adotam os modismos que estão no ar, como essa mania obsessiva de signos e mapa astral, mas não lhes falta um saudável sense of humour, mesmo quando se trata de encarar as mazelas brasileiras. Fora um deles, motivo de geral gozação, inclinado para o estilo xiita, todos têm uma visão objetiva do que acontece no Brasil e no mundo. Nenhum me pareceu cínico, mas todos acham que a política é isso mesmo e um dia melhora, se é que melhora. Quando me vi sozinho, evitei um julgamento precipitado. Onde diabo aqueles meninos se pareciam com o jovem que fui? Afinal, Camões escreveu Os Lusíadas quando Portugal tinha 95% de analfabetos. Seria no mínimo precipitado eu concluir que já não há vida inteligente no mundo, no Brasil ou no Rio. Há hoje outras formas de informação e de lazer. Mais do que nunca, a cultura pode ser agráfica ou até analfabética. Todos aqueles jovens têm, por exemplo, intimidade com o computador. Todos adoram fotografia. Vão assiduamente ao cinema e alguns, ao teatro.
O livro já não é uma imposição — eis verdade. Melhor do que ler Shakespeare, é vê-lo e ouvi-lo no palco ou na tela. É preciso a gente se desprender do modelo de cultura com que foram embalados os anos da nossa formação. E vamos deixar de bobagem: o desapego ao livro não é coisa de brasileiro. Os jovens alemães de hoje já não leem tanto quanto os de dez anos atrás, diz uma recente estatística. A proporção de jovens que na próspera Alemanha têm o hábito de ler jornais diminuiu de 11% para 7%.
Curioso é que o interesse pelos meios de comunicação de massa também sofreu uma redução proporcional à verificada na imprensa, concluiu a mesma pesquisa. El País, um dos melhores jornais do mundo, andou pesquisando o que leem os espanhóis e chegou a esta decepcionante revelação: 50% dos adultos nunca leem nada. E mais da metade, vejam só, nunca vai ao teatro. 63% dos espanhóis não compraram um único livro em 1991. Só 24% costumam ler habitualmente alguma coisa, mas 77% vão regularmente ao cinema.
Ninguém dirá que a Espanha atravessa um período de trevas, ou de empobrecimento progressivo. Pelo contrário. Mas a Inglaterra não é diferente. Lá, entre 1984 e 1991, os empréstimos anuais de livros caíram em cerca de cem milhões, nas bibliotecas públicas. O Policy Studies Institute verificou que o inglês lê cada vez menos, mas o número de livros vendidos aumentou em 4% em dois anos (1989/90). E em Portugal? Em Portugal não se lê mais e lê-se cada vez pior” — diz no Jornal de Letras José Saramago.
“A literatura não está a alargar a sua base social de apoio” — continua o romancista que é hoje um best-seller lá e cá. Por quê? Porque o livro é caro, dizem. Não, retruca Saramago. Caro é o aparelho de televisão e as antenas vão florescendo sobre os telhados portugueses, muito mais do que amadurecem no interior das casas as bibliotecas familiares. Se a culpa é da televisão, como seria antes dela? Tenho aqui o artigo de um editor, o saudoso Maurício Rosenblat. Data de 1949 e tem o seguinte título: “Nunca tantos leram tão pouco”.
Para Rosenblat, o livro estava sendo substituído “por outros meios de expressão mais imediatistas e diretos”. A partir do momento em que a mulher saiu de casa para trabalhar, dizia ele, o livro perdeu a maior parte de seu público. Por essa mesma época, anos 40, o prestigioso crítico Álvaro Lins pontificava: o livro deve deixar de perseguir o “grande público” e retornar aos “100 leitores de Stendahl”. O best-seller, dizia Álvaro Lins, nada tem a ver com a literatura. É um fenômeno destinado a ser logo esquecido.
Pelo que se vê, opiniões pessimistas sobre o futuro do livro não datam de hoje. Há uns bons 50 anos, o ex-editor Augusto Frederico Schmidt tinha com o ascendente editor José Olympio uma conversa apocalíptica, na praça 15 de Novembro, no Rio. Falavam do preço do papel, que subia, dos custos tipográficos, das dificuldades de comercialização. Como era durante a guerra, viam os dois o Brasil e o mundo mergulhados nas trevas da ignorância e da barbárie. De lá para cá, no entanto, a indústria livreira só fez progredir e se multiplicar.
E na França? Em 1990, lá se venderam 325 milhões de exemplares, um recorde. Mas nem por isto editores e livreiros deixam de proclamar a crise “une drôle de crise”. 1991 foi simplesmente um desastre e só se recuperou no último trimestre. Todos editores se queixaram: Gallimard, Grasset, Lattès, Fayard, Laffant, Le Seuil, Plon, Julliard. O que salvou a indústria livreira foram o livro didático e o livro infantil. Os encalhes são imensos e devem ser destruídos pelo déchiqueteur, a máquina de triturar livros para transformá-los em mais papel. Ninguém escapa de ser déchiqueter: nem Sartre e Camus. Gide, nem se fala.
“Houve um tempo das pirâmides e um tempo das catedrais”. Passaram. Quem sabe passou também a idade de ouro dos livros? A interrogação é de Claude Weill, que garante que na França ninguém mais lê Racine ou Chateaubriand. Nossos filhos então leem menos do que nós? Uma pesquisa tem uma resposta surpreendente: não. O índice de leitura é mais ou menos o mesmo. Entre jovens da classe média de 8 a 16 anos 50% possuem uma biblioteca pessoal. No entanto, o livro se situa em 12° lugar quando essa garotada relaciona as suas preferências e atividades de lazer.
Mas vamos deixar de pessimismo! Há um século que se vem profetizando o fim do livro e o predomínio da tecnologia e dos meios de comunicação de massa (começou com o fonógrafo e o telefone). Mas a escrita se impõe cada vez mais. Quem o diz é Bernard Pivot. Umberto Eco não só concorda, como vai mais longe: “Falar de uma guerra entre o visual e a escrita é totalmente ultrapassado. Nada de maniqueísmo: a escrita é o bem e a imagem é o mal. O século 20 nos propõe o convívio entre a imagem e a palavra oral. O computador não exclui a caneta. O público tem fome de narrativa e a procura nos jornais, na televisão, no cinema e nos livros”. O que há, diz o diagnóstico de Eco, é uma superabundância de informação e de material que prende a atenção do público consumidor. Assim seja!