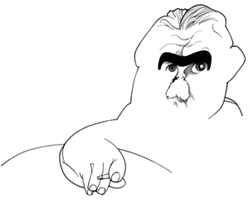O novo morador do apartamento me convidou a subir, queria que eu desse algum palpite sobre a pintura das paredes.
Ficara com os móveis da família que se mudara e trouxera mais alguns seus. Todos estavam empilhados no meio dos aposentos. Os pintores tinham terminado o trabalho do dia. Um já tomara banho e os dois outros faziam o mesmo naquele momento, um no chuveiro de empregada, outro no da família. Andando entre as montanhas de móveis e tarecos, percorremos a sala, os dois quartos, a saleta com vista para o mar. O novo inquilino me explicava: “aqui vou pintar de branco meio cinza, para o rodapé escolhi este marrom que é praticamente da cor do assoalho; preferia que fosse da mesma cor da parede, mas suja muito; esta parede aqui eu queria que continuasse com esse amarelo claro, acho muito bonitinho, mas minha mulher não gosta de amarelo. Para o quarto escolhi este verde, um pouquinho mais carregado do que está, mas pouca coisa”.
Eu concordava, calado, ou dava algum palpite sem convicção: “é, fica bem assim, também podia ser um azul bem leve…” Mas no meio daquela desarrumação ignominiosa – cadeiras, almofadas, cama de criança, pilhas de discos, biombo fechado – eu reconstituía a ordem antiga deste apartamento do casal amigo, onde tantas vezes vim. E lembrava momentos simples: o marido fumando o cachimbo, a mulher na janela chamando a criança para dentro. A antiga arrumação dos móveis, o dia em que chegou a vitrola nova, a ideia de fazer um estrado na sala da frente para uma pessoa sentada poder ver o mar. Lembro aquele jantar desagradável, em que o casal estava brigando e começou a discutir em minha frente; telefonema triste, contando uma doença súbita e grave de um amigo comum, no meio de uma noite alegre, em que havia gente cantando e dançando. Lembro tantos momentos dessa longa amizade, e de repente esses móveis me parecem não apenas desarrumados como quebrados, essa família amiga que morou aqui não apenas está ausente como está morta, ou pelo menos separada. Há, nessa mudança de uma casa tão longamente habitada, no abandono dessas coisas tão integradas na vida da família, uma traição que me dói. Nunca esse casal poderá ser o mesmo, se com tão espantosa frieza pôde abandonar esse sommier com sua gaveta baixa, outra cheia de fotografias, e todas essas coisas que tiveram a longa amizade de seus olhos e suas mãos, acostumadas a suas alegrias, seus sustos, sua calma, sua tristeza. A poltrona tem um ar lamentável, traída; o abajur iluminará outra cabeça e outro livro; a cama receberá outros corpos.
Eu também me sinto traído, com esses móveis, essas paredes, essas coisas. Eu, que sempre tenho vivido de um canto para outro, e durmo e como em qualquer lugar, e, deixo para trás as casas e as coisas, e sempre hei de sentir um prazer novo em dormir em qualquer quarto de hotel, em qualquer cidade desconhecida; eu, que de meu só conservo, ao longo do tempo, amizades e ternuras, aqui me vejo desolado e com uma vaga revolta diante dessas coisas amontoadas e tristes que perderam o próprio sentido, essas coisas em que parecia estar entranhada para sempre a alma da família, que ficaram tão silenciosas e trágicas no dia em que o menino passou mal, que tanto sofreram e viveram com o homem, a mulher e a criança. E tenho uma vontade infantil e absurda de passar a mão pelo encosto da velha poltrona e lhe dizer baixinho, como se na verdade estivesse falando para mim mesmo: “eles não tinham o direito de fazer isso”.