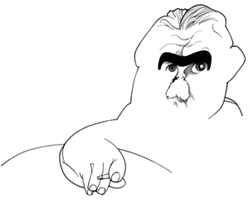Foi na última chuvarada do ano, e a noite era preta. O homem só estava em casa: chegara tarde, exausto e molhado, depois de uma viagem de ônibus mortificante, e comera, sem prazer, uma comida fria. Vestiu o pijama e ligou o rádio, mas o rádio estava ruim, aquele caso sentimental em Botafogo. E quando começou a dor-rádio, pensou ele com tédio. E pensou ainda que há muitos meses, há muitos anos, estava com muita coisa para consertar, desde os dentes até a torneira da cozinha, desde seu horário no serviço até aquele caso sentimental em Botafogo. E quando começou a dormir e ouviu que batiam na porta, acordou assustado, achando que era o dentista, o homem do rádio, o caixa da firma, o irmão de Honorina ou um vago fiscal-geral dos problemas da vida que lhe vinha tomar contas.
A princípio não reconheceu a negra velha Joaquina Maria, miúda, molhada, os braços magros luzindo, a cara aflita. Ela dizia coisas que ele não entendia; mandou que entrasse. Há dois meses a velha lavava sua roupa, e tudo o que sabia a seu respeito é que morava em algum barraco, em um morro perto da lagoa, e era doente. Sua história foi saindo aos poucos. O temporal derrubara o barraco, e seu netinho, de oito anos, estava sob os escombros. Precisava de ajuda imediata, se lembrara dele.
– O menino está... morto?
Ouviu a resposta afirmativa com um suspiro de alívio. O que ela queria é que ele telefonasse para a polícia, chamasse ambulância ou rabecão, desse um jeito para o menino não passar a noite entre os escombros, na enxurrada: ou arranjasse um automóvel e alguém para ir retirar o corpinho. Mas o telefone não dava sinal; enguiçara. E quando meteu uma capa de gabardine e um chapéu e desceu a escada viu que tudo enguiçara, os bondes, os ônibus, a cidade, todo esse conjunto de ferro, asfalto, fios e pedras que faz uma cidade, tudo estava paralisado, como um grande monstro débil.
– E os pais dele?
A velha disse que a mãe estava trabalhando em Niterói.
– E o pai?
Na mesma hora sentiu que fizera uma pergunta ociosa; devia ser um personagem vago e impreciso, negro e perdido na noite e no temporal, o pai daquele pretinho morto. Ia atravessando a rua com a velha, subitamente, como a chuva estivesse forte, e ela tossisse, mandou que ela voltasse e esperasse na entrada da casa. Tentou fazer parar quatro ou cinco automóveis; apenas conseguiu receber na perna jatos de lama. Entrou, curvando-se, em um botequim sórdido que era o único lugar aberto em toda a rua, mas já estava com a porta de ferro a meia altura. Não tinha telefone. Contou a história ao português do balcão, deu explicações ao garçom e a um freguês mulato que queria saber qual era o nome do morro – e de repente sentiu que estava fazendo uma coisa inútil e ridícula, em contar aquela história sem nenhum objetivo. Bebeu uma cachaça, saiu para a rua, sob a chuva intensa, andou até a segunda esquina, atravessou a avenida, voltou, olhando vagamente dois bondes paralisados, um ônibus quebrado, os raros carros que passavam, luzidios e egoístas na noite negra. Sentiu uma alegria vingativa pensando que mais adiante, como certamente já acontecera antes, eles ficariam paralisados, no engarrafamento enervante do trânsito. Uma ruazinha que descia à esquerda era uma torrente de água enlameada. Mesmo que encontrasse algum telefone funcionando sabia que não conseguiria àquela hora nenhuma ajuda da polícia, nem da assistência nem dos bombeiros; havia desgraças em toda a cidade, bairros inteiros sem comunicação, perdidos debaixo da chuva. Meteu o pé até acima dos tornozelos numa poça d’água. Encontrou a velha chorando baixinho.
– Dona...
Ela ergueu os olhos para ele, fixou-a numa pergunta aflitiva, como se ele fosse o responsável pela cidade, pelo mundo, pela organização inteira do mundo dos brancos. Disse à velha, secamente, que tinha arrumado tudo para “amanha de manhã”. Ela ainda o olhou com um ar desamparado – mas logo partiu na noite escura, sob a chuva, chorando, chorando.