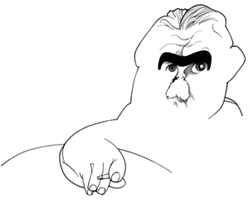Publicada, posteriormente, na Manchete, de 19/02/1955, com o título "A holandesa do terraço".
Eu falei de uma redação no vigésimo andar e de uma vizinha, rosada e loura, no terraço ao lado.
O jornal era um jornal muito vivo, e continuou assim até que um dia lhe aconteceu o que acontece com tudo o que é vivo: morreu.
Os rapazes foram-se embora: uns a resmungar, porque não haviam recebido o último ordenado; outros, mais polidos, apresentaram pêsames e lamentaram o fato. Um a um, juntaram coisas de suas gavetas e partiram para outras redações. Fiquei apenas eu na sala grande que a penumbra ia invadindo. Levantei-me da cadeira, comecei a fechar as janelas. Para os lados do poente ainda havia uma vaga luz sobre as montanhas, e contemplei um instante o morro com bananeiras e o grande relógio azul da Central, lá longe. Quando fui fechar as janelas do lado sul vi que a vizinha estava à porta de sua casa no terraço. Cantarolava uma coisa qualquer; dei-lhe um adeus a que ela não respondeu; e parti.
E a grande sala ficou fechada, com inúteis papéis e fotografias nas gavetas de suas mesas; fechada, escura e fria. O jornal foi esquecido: mas enquanto se resolvia o destino das coisas a grande sala continuou desabitada.
Uma destas manhãs precisei ir lá. Quando entrei, achei o ar pesado e morno, e embora não devesse demorar muito, resolvi abrir todas as janelas. A vizinha estava de costas, junto ao muro do terraço defronte de uma janela, secando seus cabelos ao sol. Ouvindo o ruído da janela que se abria, voltou-se, e deu comigo. Cumprimentei-a gravemente com um aceno de cabeça; e ela, surpreendida, retribuiu a minha saudação. Depois foi para mais longe. Afastei-me da janela, mas fiquei um instante a observá-la. Ela passava os pentes nos cabelos molhados, esticando-os ao sol. Assim como tantas vezes a vimos, lá estava a “holandesa” ou a “madona”, loura, roliça, eterna, eternamente a enxugar seus cabelos ao sol de toda manhã. Agora estava de perfil, mas achei que espreitava com um canto de olho enquanto eu abria todas as janelas. Durante muito tempo ela vira aquelas cinco janelas fechadas: era natural que estranhasse a novidade.
Quando fui fechar a janela para sair, fiquei tentado a dizer-lhe alguma coisa — perguntar se alguma vez sentira saudade de nós, ou se estava mais feliz sem os olhares importunos dos rapazes da redação. Tive vontade de dizer: “eles vão voltar”!, ou de perguntar-lhe porque lavava tanto os cabelos. Olhei-a um instante indeciso. Imagino que ela tinha a consciência de que eu a olhava, embora não se tivesse voltado. Hesitei um instante, a mão na correia que puxa a persiana. E então considerei que a imagem daquela mulher moça, com seus braços rosados e roliços e seus cabelos molhados brilhando ao sol talvez tivesse ficado também na lembrança de todos os rapazes da redação. Certamente nenhum se lembrou dela depois da morte do jornal, e quando eles se encontram nenhum terá a ideia de falar dessa imagem sem nome e sem história. Entretanto estivemos todos na sua vizinhança, meses e meses, sobre a cidade múrmure; nossos destinos se defrontaram assim em silêncio, e se afastaram. Rapazes, inquietos rapazes de Jornal; quem sabe se a felicidade de algum de vós não estaria naquela mulher sossegada, roliça e cantarolante, muito loura e rosada, no seu terraço modesto, a lavar e enxugar com preguiça os cabelos toda manhã de sol?
Tenho uma tendência a pensar tolices meigas; pensar na solidão da criatura humana, no acaso que dirige o encontro das pessoas, e seus desencontros no tempo e no espaço; no gesto que ninguém fez, na palavra que não se disse, no sentimento que não se suspeitou. Olhei ainda um instante a mulher: ela me parecia eterna como uma estátua ao sol, a estátua de todo o banal mistério humano, a estátua de toda a vida que não acontece, de todo o destino que poderia ter sido. Lentamente, em silêncio, baixei a janela sobre sua imagem, apanhei minhas coisas, e parti.