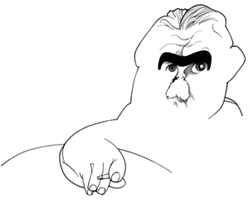A morte de Colette, há pouco tempo, me levou a reler dois de seus livros, que eu lera demasiado jovem. Peguei ao acaso Mitsou e La vagabonde e me deixei levar com delícia por seu estilo tão simples, tão fresco e sensível. É difícil conceber que alguém possa escrever melhor do que ela; seu estilo é clássico de nascença. Mas o resto não teria envelhecido, a maneira de tratar as coisas e as pessoas? Nada seria mais natural em uma escritora que teve um grande êxito popular escrevendo sobre coisas de seu tempo e de sua cidade: O que é muito “novo” envelhece depressa...
Pois a resposta a esta dúvida me alegrou: Colette permanece. É claro que não está nem poderia estar em moda agora, num momento em que a literatura busca temas de angústia e negação, em que o espírito se exacerba diante do próprio vácuo, numa negação do Eterno que em si mesma é uma forma de misticismo. Colette faz a novela tradicional; conta, quase sempre, uma simples história de amor; fora disso o que lhe interessa são os bichos, são as plantas, o céu, as coisas simples da natureza. Sua grandeza me parece residir nisso, na tranquilidade com que ela aborda esse tema tradicional que é amor entre o homem e a mulher. Fala do amor sentimental sem pieguismo e do mar físico sem vulgaridade; e não separa um de outro, antes os vê misturados como eles aparecem na vida, e misturados também a todas as coisas vulgares da vida, os problemas de dinheiro, beleza, inteligência, lugar, tempo... Sem cuidar um instante de ser transcendental, esse cronista de “casos” acaba criando, talvez sem querer, e apenas através da sensibilidade, uma filosofia do amor.
Essa mulher, que morreu há coisa de dez anos foi, afinal, uma grande escritora honesta e humana que soube ver o lado melancólico e terrivelmente sério das coisas frívolas. Os franceses, por isso mesmo, não se limitaram a admirar Colette; eles a amaram. E sua glória sempre teve um gosto de ternura.