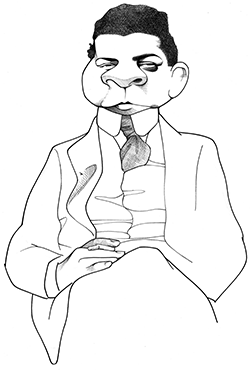Fonte: Toda crônica. Apresentação e notas de Beatriz Resende; organização de Rachel Valença. Rio de Janeiro, Agir, 2004, vol. I, p. 277. Publicada, originalmente, no periódico Revista da Época, de 20/07/1917 e, posteriormente, no livro Vida urbana. São Paulo, Brasiliense, 1956, p. 121.
Viveu uma semana a cidade sob a impressão do desastre da rua da Carioca. A impressão foi tão grande, alagou-se por todas as camadas, que temo não ter sido de tal modo profunda, pois imagino que, quando saírem à luz estas linhas, ela já se tenha apagado de todos os espíritos.
Todos procuraram explicar os motivos do desastre. Os técnicos e os profanos, os médicos e os boticários, os burocratas e os merceeiros, os motorneiros e os quitandeiros, todos tiveram uma opinião sobre a causa da tremenda catástrofe.
Uma coisa, porém, ninguém se lembrou de ver no desastre: foi a sua significação moral ou, antes, social.
Nesse atropelo em que vivemos, nesse fantástico turbilhão de preocupações subalternas, poucos têm visto de que modo nós nos vamos afastando da medida, do relativo, do equilibrado, para nos atirarmos ao monstruoso, ao brutal.
O nosso gosto, que sempre teve um estalão equivalente à nossa própria pessoa, está querendo passar, sem um módulo conveniente, para o do gigante Golias ou outro qualquer de sua raça.
A brutalidade dos Estados Unidos, a sua grosseria mercantil, a sua desonestidade administrativa e o seu amor ao apressado estão nos fascinando e tirando de nós aquele pouco que nos era próprio e nos fazia bons.
O Rio é uma cidade de grande área e de população pouco densa; e, de tal modo o é, que se ir do Méier a Copacabana é uma verdadeira viagem, sem que, entretanto, se saia da zona urbana.
De resto, a valorização dos terrenos não se há feito, a não ser em certas ruas e assim mesmo em certos trechos delas, não se há feito, dizia, de um modo tão tirânico que exigisse a construção em nesgas de chão de sky-scrapers.
Por que os fazem então?
É por imitação, por má e sórdida imitação dos Estados Unidos, naquilo que têm de mais estúpido – a brutalidade. Entra também um pouco de ganância, mas esta é a acoraçoada pela filosofia oficial corrente que nos ensina a imitar aquele poderoso país.
Longe de mim censurar a imitação, pois sei bem de que maneira ela é fator da civilização e do aperfeiçoamento individual, mas aprová-la quand même é que não posso fazer.
O Rio de Janeiro não tem necessidade de semelhantes “cabeças-de-porco”, dessas torres babilônicas que irão enfeá-lo e perturbar os seus lindos horizontes. Se é necessário construir algum, que só seja permitido em certas ruas com a área de chão convenientemente proporcional.
Nós não estamos, como a maior parte dos senhores de Nova York, apertados em uma pequena ilha; nós nos podemos desenvolver para muitos quadrantes. Para que esta ambição então? Para que perturbar a majestade da nossa natureza, com a plebeia brutalidade de monstruosas construções?
Abandonemos essa vassalagem aos americanos e fiquemos nós mesmos com as nossas casas de dois ou três andares, construídas lentamente, mas que raramente matavam os seus humildes construtores.
Os inconvenientes dessas almanjarras são patentes. Além de não poderem possuir a mínima beleza, em caso de desastre, de incêndio, por exemplo, não podendo os elevadores dar vazão à sua população, as mortes hão de se multiplicar. Acresce ainda a circunstância que, sendo habitada por perto de meio a um milhar de pessoas, verdadeiras vilas, a não ser que haja uma polícia especial, elas hão de, em breve, favorecer a perpetração de crimes misteriosos.
Imploremos aos senhores capitalistas para que abandonem essas imensas construções, que irão, multiplicadas, impedir de vermos os nossos purpurinos crepúsculos do verão e os nossos profundos céus negros do inverno. As modas dos “americanos” que lá fiquem com eles; fiquemos nós com as nossas que matam menos e não ofendem muito à beleza e à natureza.
Sei bem que essas considerações são inatuais. Vou contra a corrente geral, mas creiam que isso não me amedronta. Admiro muito o imperador Juliano e, como ele, gostaria de dizer, ao morrer: “Venceste, Galileu”.