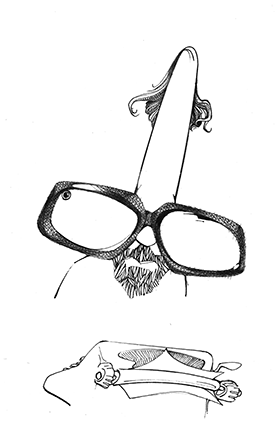Fonte: Os olhos dourados do ódio, José Álvaro Editor, 1960, pp. 51-53. Publicada, originalmente, no Caderno B, coluna "O homem e a fábula", do Jornal do Brasil, de 29/06/1962.
Ouça a crônica de José Carlos Oliveira na voz do ator Luiz Octavio Moraes.
Ele morou vinte dias no apartamento do amigo que tinha ido à Europa. Talvez fosse um quarto-sala, mas só tinha mesmo um quarto relativamente comprido. O banheiro sem água quente. A cozinha sem fogão. E dando para os fundos. Durante 14 dias manteve a janela fechada, porque pela fresta da veneziana, numa mirada rápida, vira toda a paisagem que poderia descortinar: duas estruturas de concreto separadas por uma nesga de terreno baldio. Dois prédios estavam sendo levantados ali. Os operários começavam bem cedo a martelar. Então resolveu não olhar nunca mais pela janela.
O quarto era frio como uma queda de pressão. “Este quarto precisa de pelo menos duas doses de uísque”, pensou ele. E começou a morar. Chegava de madrugada, deitava-se, acordava no dia seguinte e ia embora. Não tinha ânimo para ficar no apartamento mais tempo do que um sono. A escura e gélida morada assemelhava-se, mal comparando, à gélida e escura melancolia que contraíra ao perder seu amor. Saía, fechava a porta, entrava no elevador, atravessava o saguão sem olhar os dois porteiros que passavam o dia jogando damas, e ia embora. Mas não ia a lugar nenhum. Não tinha onde ir. Não queria conversar com ninguém. No prédio era o homem invisível. Na rua, o desconhecido. No coração, a angústia gelada e irremediável. “Agora posso compreender o rapaz dos pardais”, pensou ele certa vez.
“Havia num prédio um rapaz que ninguém conhecia e que tinha um hábito curioso: todas as manhãs distribuía alpiste aos pardais que fervilhavam em sua janela. As donas de casa e as crianças, por sua vez, debruçavam-se nos peitoris para ver o rapaz dos pardais. Era evidentemente um bom moço. Tão bom, que um dia não abriu a janela. Os pardais chegavam, e nada. Finalmente os pássaros deixaram de vir. A porta foi arrombada e o rapaz estava morto. Gás. (Aqui, entretanto, não tenho gás)”.
Esta era a vida do rapaz que não tinha nem sequer pardais para distrair-se. Mas ia vivendo, porque não se pode fazer outra coisa. Até que houve o episódio da árvore. Foi assim:
― No décimo quinto dia, tendo dormido muito tarde, e precisando acordar cedo para cumprir uma obrigação, abriu os olhos aflito. Quantas horas seriam? Não tinha relógio. No quarto escuro teve medo de ter ficado adormecido a manhã inteira e a tarde também. Pulou da cama tiritante e concluiu que a única solução era abrir a janela sobre a paisagem detestável, para calcular as horas pela tonalidade da luz. E assim fez. A claridade não tinha cor; meio branca, meio cinza, meio inodora e bastante insípida. Podia ser manhã ou tarde. Arre! Então começou o milagre. Debruçando-se como outrora o fazia o rapaz dos pardais, ele viu, entre os dois prédios em construção, a árvore de ouro. Pensou que fosse uma acácia, mas não era. Era um flamboyant. Inacreditável flamboyant abrindo num leque de fogos de artifício os seus galhos inclinados ao peso de inumeráveis folhas amarelo-ouro. Um flamboyant como nunca existiu igual. “Quando o vento sopra”, pensou ele, “as folhas não farfalham, mas tilintam”. Lá estava a árvore que parecia haver sugado toda a luz do sol; luminosa, feérica, promovendo sozinha a primavera. O rapaz inventou logo uma teoria, segundo a qual aquela efusão de folhas de ouro eclodira quando pelos galhos passara o vento no qual vagueia a alma do rei Midas... Ele deixou a janela aberta e foi para a rua sem melancolia, sem ódio, leve e satisfeito, pensando em ir ao cinema ou fazer qualquer outra coisa que todo mundo faz, devolvido ao cotidiano ― com as mãos nos bolsos e assoviando à maneira dos rapazes em toda parte. Nos olhos, crucificado, o incêndio inesquecível: o grande leque aberto no ar como se abrem os fogos de artifício, e o tilintar de moedas quando o rei Midas passa na garupa da ventania.