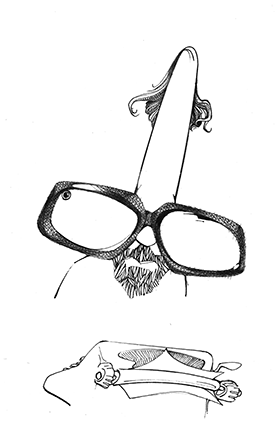Quando vi o mundo pela primeira vez eu estava nu, com vermes, com perebas e com fome. Houve um tempo anterior a esse, porventura menos doloroso, conforme atesta uma fotografia minha aos nove meses de vida, nu, mas robusto, e com uma chupeta pendurada ao pescoço. Há também uma recordação ou fantasia relativa aos 14 meses: alguém me largou e rolei uma escadaria, adquirindo em consequência um crânio amassado na nuca. Mas quando vi o mundo pela primeira vez eu estava nu, com vermes, com perebas e com fome. Antes disso, antes de ocupar com palavras a minha consciência, nós morávamos numa casa ao pé da escadaria, mas era agora moldura nossa um morro roído de mato bravo e pontilhado de bananeiras e mamoeiros. Assim, estava eu sentado ao pé do novo lar — uma construção de barro batido coberta de zinco, úmida e fedorenta, e amoldava a bunda à friúra do barro, e coçava com furor e deleite a cabeça formigante de piolhos, e dava petelecos nos percevejos que furavam meu corpo e tinham um cheiro enjoado de almotolia. Sofrendo diarreia crônica, procurava constantemente a vala que vinha do alto do morro, e, agachado sob folhas e bagas de mamona, lançava na fétida água os chumaços de vermes cabeceantes em sua placenta de fezes, enquanto contemplava, além do ondulante chão, o vulto branco de um convento transformado em orfanato. Nasciam bebês, irmãos meus, e morriam. Dos oito que sobraram, formando uma escadinha, desapareceu misteriosamente a mais velha, linda em seu retrato pálido, sobrevivendo os demais: seis meninas e eu, mais velho um ano que a caçula.
Morro abaixo, no caminho do orfanato, mamãe e as irmãs maiores lavavam roupa numa bica, de cuja água surgiu o primeiro milagre de que tive conhecimento. Uma de minhas irmãs – pode ter sido aquela que desapareceu — levou-me certa manhã à torneira. O céu estava azul e tenho a sensação retrospectiva de que era uma quinta-feira, em abril ou maio. Ela abriu a torneira e a água clara esguichou. Apertou o dedo na boca da torneira e a água esguichou desta vez horizontalmente, em leque. Ela disse:
— Olha o arco-íris.
Olhei e vi o arco-íris na água aberta em leque sob o céu azul. O sol devia estar criando uma ilusão, mas o que eu via era o milagre da multiplicação das lágrimas coloridas onde antes só havia lágrimas. Sem prejuízo da limpidez e integridade da água, eram azuis, vermelhas, verdes, rosas, roxas, amarelas, cintilantes, e perduravam ali onde estavam suspensas, embora sob elas fosse sempre outra a água que jorrava da cornucópia azinhavrada, e eu comprovava que mesmo na mais completa miséria este mundo pode ser deslumbrante. Há de parecer absurdo que, não tendo saúde, nem higiene, nem conforto, nem roupa, nem comida, nem consolo, nem amor, alguém possa receber em troca nada menos que o arco-íris; mas foi assim que aconteceu.