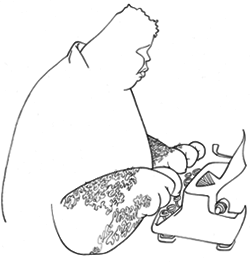Fonte: Vento vadio: as crônicas de Antônio Maria. Pesquisa, organização e introdução de Guilherme Tauil,Todavia, 2021, pp.300-302. Publicada, originalmente, em O Globo, de 02/05/1957.
Com o tempo, o homem se habitua à tal maneira à busca da beleza que, mesmo ante um motivo real de aflição, seu espírito encontra no que se enlevar. É a conquista, não sei se aconselhável, da solidão. O piloto Saint-Exupéry, por exemplo, voando entre dois enxames de caças inimigos, descrente de poder chegar a Arras, procurava descobrir em cada minuto que o separava da morte uma verdade nova da vida. Para contar a quem, se ele estava certo de que ia morrer? De que lhe serviria enriquecer-se de um conhecimento a mais (dos outros ou de si mesmo), se a morte se cravaria em sua nuca, dali a pouco, quando estivesse ao alcance das metralhadoras alemães? O poeta, porém, mesmo o de menos coragem, não consegue tomar o pavor como uma emoção total. Torna-se íntimo do seu medo. Habitua-se a ele. E o risco de morte iminente transforma-se em probabilidade futura. A nesga do presente que lhe resta é um momento de rara lucidez, no qual sua ciência sobre os homens e os acontecimentos parece-lhe convicção exata e definitiva.
Uma noite, num avião que não podia aterrar, achei que ia morrer; e, quando me habituei à ideia de morte próxima, quando pude conviver com o meu perigo, tudo que pude ver e sentir era de uma nitidez que me deslumbrava. Sabia até onde era verdadeira a serenidade da aeromoça. E quando começava a mentira, no pavor de companheiro de bordo. Havia um fingimento acrescentado ao terror daquele homem. Era, talvez, uma vaidade lírica que o fazia dizer o nome de uma mulher. Não seria na simples citação, mas na melodia das frases em que o nome era a tônica musical. Na poltrona de trás, um jovem rezava. Achei-o sem Deus algum no coração. Rezava, talvez, porque já ouvira falar de proteções inesperadas, em perigos parecidos. Muitas e muitas vezes voamos em volta do Corcovado. Se em sua reza houvesse a presença ou ânsia de Deus, chamaria o Cristo, com um grito ou com um gesto, porque nada poderia assemelhar-se mais a um milagre que ver Cristo tão de perto, tão iluminado, tão branco, tão grande e tão deus, pairando sobre entre a noite dos céus e das montanhas. Eu tinha rezado em pensamento e apenas duas orações a que recorro frequentemente. Sobrava-me tempo (aquela nesga do presente) para sentir-me o mais possível em face do último acontecimento. A noite, em volta de nós, enorme como sempre. Na terra, havia uma casa, que era a minha. As minhas pessoas dormiam o cansaço e o silêncio dos seus corpos. Tinha receio de pensá-las apreensivamente, porque, mesmo ao longe, uma delas poderia despertar, sacudida por um pressentimento. Olhei e ouvi os passageiros. Nossas pobres vidas, já quase sem futuro e sem calma para recordações. A meninice, por exemplo. Pensei em que valera eu ter sido menino. Eu nunca fora um menino completamente. Tinha sido sempre um pouco parecido com as pessoas grandes. Quando chorava, chorava baixo como as pessoas grandes; cobrindo o rosto e mordendo a boca, como as pessoas grandes. Toda pessoa direita, depois de grande, quando chora por um motivo dos outros, pensa no que podem estar pensando a seu respeito. Há ainda alguém que seja capaz de chorar sinceramente a morte de um amigo? E tem havido esse amigo?
As crianças que são crianças mesmo choram gritando, choram vermelhas, para que todos as ouçam e as vejam. Eu não ia chorar.
As letras verdes do avião recomendaram que não fumássemos. Aquilo queria dizer que não estávamos irremediavelmente perdidos. Havia muitas esperanças. Do contrário, receberíamos permissão para fumar à vontade.
Lá embaixo, a terra, a vida, as mãos das mulheres, o cheiro do sol na cabeça do filho de nove anos. Cessaria o compromisso das nossas confidências. E uma curiosidade me fascinava: qual ia ser a minha última saudade? E, sendo gente: quem?