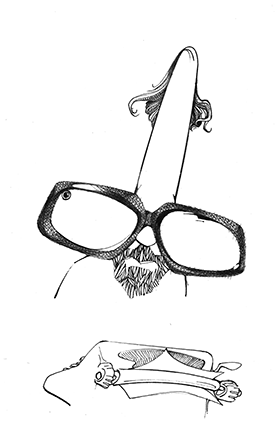Quinze minutos antes de meia-noite me encontrei perdido entre a avenida Delfim Moreira e a rua Cupertino Durão. Já os rojões e os gritos espalhavam a festa por toda parte. Eu estava triste, assombrosamente só. Tenho muitos e verdadeiros amigos, amigos maciços, temperados no sofrimento e na meditação; muitas portas se abririam e muitas taças se ergueriam em minha homenagem; mas me sentia tão triste e só que não queria repartir essa condição com ninguém. Com minhas sandálias esquivei-me qual ladrão do fogo sagrado. Na noite de 31 de dezembro, a dor é regional; o sofrimento, municipal, e a solidão, desbordante. Eu tinha um encontro com Iemanjá, que é a fisionomia feminina atribuída ao mar. A multidão na praia lançava as suas oferendas, as velas ardiam na areia multiplicada em templos. Pensei em Jesus Cristo, em Jonas e em Treblinka; e também, particularmente, na mulher pequenina, de olhos negros, doce e murmurante, que detém meu amor; essa que traz em si todas as mulheres que amei; pensei nela.
Entreguei meus pés, dentro de suas sandálias, ao mar que ali quebrava suas jubas verdes, e rosnava e rugia. Ao mar, que me veio aos joelhos. “Estou magro”, pensei, “está chegando a hora”. Contemplei meu suicídio e não me amedrontei. O ano de 1972, da desgraça e da graça, do amor e do escândalo, da investigação selvagem da alma, da mais pura flor que hei florido, da inquietação inquebrantável, o ano da minha solidão quebrava-se ali, e vinha outro. Na qualidade de existente, nunca me senti profissional; fui sempre livre, isto é, sem amparo; e eis por que as minhas palavras trazem em si algo semelhante ao fogo; e eis por que as minhas blasfêmias sorriam em minha boca, naquela noite; e eis por que sou um homem magro.
Pensei em meu irmão, um poeta. Meu irmão, mas não meu companheiro de jornada: eis como é imensa a minha soledade. Não possuir contemporâneos é situação assaz detestável. Pus-me a chorar diante da sucessão de jubas iracundas, enquanto iam e vinham as flores da fé, Iemanjá, Nossa Senhora das ondas, sorria na escuridão verde; e as águas diziam aquilo que sempre dizem: vão e voltam.
Meus pecados naquela hora me assediavam, e percebi nitidamente que não havia estrelas no céu, naquela hora. Meus pés estavam ungidos, mas meu coração amargurado. Singular criatura ali, calçando sandálias... O número zero contemplando a numerosidade.... As mulheres se despojavam de seus cabelos, que eram cobiçados pelas águas clamorosas. E eu implorava que me habitasse, uma vez que fosse, a delicadeza de um gato, a piedosa calma dos animais de olhos sábios.
Pensei na criança que feri mortalmente: a mais bela criança, a mais magrinha, a mais arrebatada, aquela que a minha avareza destruiu. E na outra — aquela que me destruiu. Pensei, sardônico: “Será que ainda se pode falar em amor, como se fazia antigamente”? Naquele mesmo instante os inocentes eram sacudidos pelo primeiro riso inteligente, e eu reiterava que, na verdade, todos somos órfãos de filhos.
Acordei com areia nos pés: 1972 tinha sido um deserto.