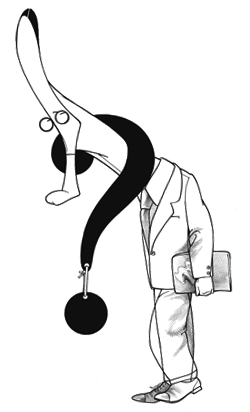Publicada, posteriormente, em A bolsa & a vida, Editora do Autor, 1962, pp. 113-118.
Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond
Imagens incertas
Não se sabe ainda se o mundo acabou realmente no sábado, como fora anunciado. Pode ser que sim, e não seria a primeira vez que isso aconteceria. A falta de sinais estrondosos e visíveis não é prova bastante da continuação. Muitas vezes o mundo acaba em silêncio, ou fazendo um barulho leve de folha. Tempos depois é que se percebe, mas já então vivemos em outro mundo, com sua estrutura e seus regulamentos próprios e ninguém leva lenço aos olhos pelo falecido.
O mundo primitivo dos répteis, o mundo neolítico, o egípcio, o persa, o grego, o romano, o maia... todos esses acabaram, e muitos outros ainda. A história é um cemitério de mundos, notando-se que uns tantos acabaram de morte tão acabada que nem sequer figuram lá com uma tabuleta; não se sabe que fim levaram as cinzas.
Pessoas que aí estão vivas assistiram à morte do mundo em 1° de agosto de 1914, mas estavam lendo jornal e não compreenderam no momento. Era apenas mais uma guerra na Europa, mas acabou com a Belle Époque, a douceur de vivre, a respeitabilidade vitoriana, o franco, a supremacia da libra, os suspensórios, o rapé, os conceitos econômicos, políticos e éticos do século XIX — mundo que parecia eterno. Pedaços dele andam por aí, vagando, como o colonialismo, a opressão de grupos financeiros, a servidão civil da mulher, mas pertencem a um contexto liquidado, rabo de lagartixa vibrando depois que o corpo foi abatido.
É possível que a previsão dos astrólogos indianos não tivesse base e que o mundo atual dure muitos anos. Acredito mesmo que é cedo para ele morrer, se apenas está nascendo e nem se sabe ao certo como é ou será.
Aos 7 anos de idade o cronista imaginou que ia presenciar a morte do mundo, ou antes, que morreria com ele. Um cometa mal-humorado visitava o espaço. Em certo dia de 1910, sua cauda tocaria a terra, não haveria mais aulas de aritmética, nem missa de domingo, nem obediência aos mais velhos. Estas perspectivas eram boas. Mas também não haveria geleia, “Tico-Tico”, a árvore de moedas que um padrinho surrealista preparava para o afilhado que ia visitá-lo. Ideias que aborreciam. Havia ainda a angústia da morte, o tranco final, com a cidade inteira (e a cidade, para o menino, era o mundo) se despedaçando — mas isso, no fundo seria um espetáculo. Preparei-me para morrer, com terror e curiosidade.
O que aconteceu à noite foi maravilhoso. O cometa de Halley apareceu mais nítido, mais denso de luz, e airosamente deslizou sobre nossas cabeças sem dar confiança de exterminar-nos. No ar frio o véu dourado baixou ao vale, tornando irreal o contorno dos sobrados, da igreja, das montanhas. Saíamos para a rua banhados de ouro, magníficos e esquecidos da morte, que não houve. Nunca mais houve cometa igual, assim terrível, desdenhoso e belo. O rabo dele media.... Como posso referir em escala métrica as proporções de uma escultura de luz, esguia e estelar, que fosforeja sobre a infância inteira? No dia seguinte, todos se cumprimentavam satisfeitos, a passagem do cometa fizera a vida mais bonita. Havíamos armazenado uma lembrança para gerações vindouras que não teriam a felicidade de conhecer o Halley, pois ele se dá ao luxo de aparecer só uma vez cada 76 anos.
Nem todas as concepções de fim material do mundo terão a magnificência desta que liga a desintegração da terra ao choque com a cabeleira luminosa de um astro. Concepção antiquada, concordo. Admitia a liquidação do nosso planeta como uma tragédia cósmica que o homem não tinha poder de evitar. Hoje, o excitante é imaginar a possibilidade dessa destruição por obra e graça do homem. A terra e os cometas devem ter medo de nós.