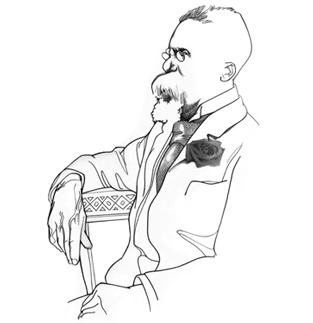Fonte: Todas as crônicas: Aquarelas e outras crônicas (1859-1878). Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2021, vol. 1, pp. 282-285. Publicada, originalmente, no Diário do Rio de Janeiro, de 27/02/1865.
O deus Momo nos perdoará se não lhe damos a melhor parte neste folhetim. Das duas festas que houve domingo, a dele não foi a mais bela. A mais foi a outra, de que os jornais deram ontem notícia minuciosa, a festa dos voluntários que partiram para o Sul; festa singular, em que a imagem da morte aparecia a todos os espíritos, coroada de mirtos e louros; em que as lágrimas do cidadão afogavam as lágrimas do homem; em que uma leve sombra de saudade mal se misturava ao fogo sagrado do entusiasmo.
Não há como negá-lo, a alma do povo levanta-se do sono em que jazia: os ânimos mais desencantados não podem deixar de sentir palpitar o coração da terra. As dedicações que de todos os pontos afluem são um eloquente sintoma de vitalidade nacional.
Ao grito da pátria agravada acodem todos: os mancebos deixam a família; os pais e as mães mandam os filhos para a guerra; as esposas, doendo-as mais da viuvez da pátria que da própria viuvez, não hesitam em separar-se dos esposos. É a grande leva das almas generosas.
As folhas narram o encontro no mar dos dois vapores, um que levava o contingente para o Sul, outro que conduzia voluntários para a corte. Quando as duas multidões se avistaram romperam em aclamações. Que há aí de mais belo? Que olhos se podem conservar enxutos ante esse espetáculo de fraternal animação?
Dos atos patrióticos publicados na última semana não faremos menção nestas colunas, que poucas seriam para tanto. Lembraremos de apenas dois fatos, não porque sejam únicos ou raros, mas porque eles resumem a atitude do país nesta lutuosa atualidade.
O primeiro é o daquele mineiro, Francisco de Paula Ribeiro Bhering coroado de cabelos brancos, que alega os seus 65 anos e a sua numerosa família para motivar uma isenção forçada, mas que, em compensação, apresenta seus dois filhos para o serviço da pátria.
O segundo é o daquela senhora campista, d. Francisca Alves Corrêa de Jesus, modelada pelo tipo antigo, que no ato da partida dos voluntários vai de olhos enxutos abençoar seu filho, a quem diz estas enérgicas palavras:
“Vai, meu filho, vai, não chores. Vai defender a tua pátria, e se voltares, traz-me a tua camisa tinta no sangue desses malvados, que eu terei muito gosto em a lavar”.
A corajosa senhora conservou toda a calma durante essa despedida suprema. Mas era mulher e mãe. Quando voltou as costas ao filho as lágrimas rebentaram-lhe dos olhos.
Repetimos: estes fatos não são os primeiros, nem são raros. Campos deu um recente exemplo do primeiro; Minas deu o primeiro exemplo do segundo; eles provam que o povo brasileiro sente correr em si o sangue vivo da liberdade.
O que todos pedem, o que todos exigem, é que os governantes não desalentem o ardor dos governados.
A segunda festa de domingo, o Carnaval, esteve mais frouxa que a dos anos anteriores, ao menos naquilo que pudemos ver. As causas de semelhante fato não precisamos nós assinalá-las, são conhecidas dos leitores. Avultaram muito nas ruas esses grupos de máscaras a que o povo dá uma designação extravagante, e cujo único divertimento é atordoar a gente tranquila com uma tocata de tambor, mais aborrecida do que duas semanas de chuva.
Nos teatros dizem-nos que houve luzimento.
O empresário dos bailes do Teatro Lírico destinou o produto do baile de ontem para as viúvas e órfãos dos que perecerem na campanha. A ideia é boa; não sabemos, à hora em que escrevemos, qual será a concorrência do baile; lamentamos somente que o dia de ontem seja sempre um dia de pouca concorrência, pela circunstância de estar colocado entre o primeiro e o último dia de carnaval, e como tal, destinado ao descanso dos foliões.
O Alcazar teve também uma ideia de beneficência. Hoje à tarde sairão daquele teatro os artistas da companhia, trajados no Orpheu nos infernos, para uma coleta entre o povo, destinadas às famílias dos bravos soldados que perecerem na campanha.
Surpreender a população no meio dos folguedos do dia, para intimar-lhes docemente a obrigação de enxugar as lágrimas dos que sofrem por todos, é uma ideia que não pode ser maltratada. Oxalá que ela dê bons frutos.
Se há transição fácil, natural, propícia, é do Carnaval à Quaresma. Os últimos sons dos guizos de Momo confundem-se com os primeiros dobres dos sinos da quarta-feira de cinzas. Se bem nos recordamos, a Semana Ilustrada representou com ateísmo, no ano passado, esta contiguidade da última hora da loucura com a primeira hora da penitência.
Ora, lembrar a Quaresma é sentir uma grande satisfação. Por quê? Porque, se os leitores se lembram, algumas procissões foram suprimidas, e tudo faz crer que as restantes sê-lo-ão também. Suprimir as nossas clássicas procissões é contribuir para dar ao culto externo um aspecto mais severo e mais digno. Eis um uso do passado cuja supressão não pode deixar de ser aplaudida.
Há de custar muito a fazer-se com que o nosso povo perca de uma vez gosto das procissões. Foi educado com elas; é uma tradição de infância. Os velhos de 1865 fazem um triste juízo de nós, quando comparam o nosso tempo ao tempo do rei. O rei tinha predileções confessadas por todas as velhas carolices. Os contemporâneos dele choram hoje pelo bom tempo dos oratórios de pedra, dos terços cantados, das procissões bem-ordenadas, das ladainhas atrás do viático, das boas festas e dos bons frades; da verdade e dos verdadeiros filhos de Deus.
Não há dúvida que havia então certa ingenuidade de costumes; a carolice não elevava o espírito daquela gente, mas dava-lhe às vezes certa atmosfera de pureza à alma. Havia fé e boa-fé. Todavia, para que um povo seja profundamente religioso, é preciso que não seja profundamente carola.
As nossas clássicas procissões podem dar ideia de tudo, menos de um culto sério e elevado. Três ou quatro dúzias de anjinhos, espremidos em vestes variegadas, bambeando o corpo ao som da música; duas filas de homens com tochas na mão, alguns dos quais, por irreflexão sem dúvida dizendo pilhérias à esquerda e à direita; as estátuas dos santos guindadas em andores floridos e agaloados; um anjo cantor, às vezes, que é sempre uma moça feita, e a quem de espaço em espaço fazem trepar a uma escada para cantar, enquanto os assistentes comentam as suas graças juvenis — tais são as nossas procissões, e semelhantes práticas ridículas e irreverentes não podem subsistir numa sociedade verdadeiramente religiosa.
Há no clero espíritos esclarecidos e sinceros. Esses que façam a propaganda. Nada mais fácil, nada mais útil. Uma procissão hoje é uma folia, mesmo para os mais sinceramente religiosos. Que os sacerdotes sérios se conservem cúmplices de uma prática que só aproveita aos sacerdotes que não são sérios, como eles.
Ocorre-nos agora um fato que vem confirmar o nosso juízo acerca destas procissões: é conhecida de toda a cidade a luta tradicional que os diferentes templos estabeleceram entre si, com o único objeto de primar uns sobre outros no luxo das suas procissões respectivas. Quem vencia este ano arriscava-se a ser vencido no ano seguinte, cabendo-lhe a vitória em ulterior ocasião. Essa luta demais profana, manifestava-se por uma acumulação de prata e ouro os andores, mais numeroso concurso de irmãos e de anjinhos, e outras coisas iguais.
Duvidamos muito que a divindade visse com bons olhos estes conflitos de primazia.
Fazendo estas observações, não nos inspira a ideia de molestar ninguém e muito menos os que nutrem sincero amor ao esplendor do culto. Um erro de aplicação não importa um erro de intenção, e muitos dos que instam por práticas inveteradas não são levados, decerto, por um sentimento de vaidade pueril. Mas a estes bastar-lhes-há a consciência.
Se fazemos esta ressalva é para escapar uma vez, se é possível, a um dos muitos espinhos que forram o leito do folhetim. Aqui teríamos muito para dizer, se o espaço no-lo permitisse. Demais, ninguém até hoje ainda ocupa este lugar que não tivesse de dizer melancolicamente aos seus leitores, que tudo na vida do folhetinista são rosas. Nenhum leitor pode alegar ignorância.
Um exemplo, às pressas, para dar uma ideia somente dos muitos inconvenientes que cercam a vida do folhetim.
Que um florista exponha nas suas vidraças um ramo de flores; que um poeta remeta ao folhetinista um livro de versos; que um inventor o convide a ver uma máquina de moer qualquer coisa; se, depois do exame prévio, o folhetim disser que prefere as flores criadas por Deus, ou trabalhadas por Batton ou Constantino; que os versos não foram cuidados; enfim que a máquina não realiza os intuitos do inventor; cai-lhe sobre a cabeça a excomunhão maior e o folhetim fica condenado eternamente. Nem escapa ao côvado literário; medem-no e inscrevem-no no registro geral: uma polegada de competência podem julgar, quando muito, os liliputianos.
Imaginem agora os leitores que soma de pachorra e de filosofia não é preciso ao folhetim, quando ele é despretensioso e tem sincera consciência de si, para escrever tranquilamente esta única resposta:
Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre.