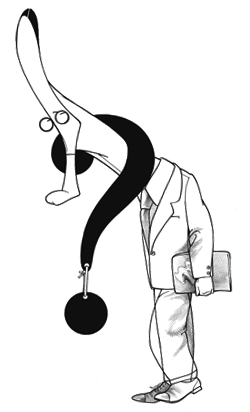Carlos Drummond de Andrade © Graña Drummond
Publicada em A intensa palavra: crônicas inéditas do Correio da Manhã, 1954-1969, Record, 2024, pp. 299-300.
Enlace de imagens
Não sei por que, a eleição da sra. Indira Gandhi para primeiro-ministro da Índia, o fechamento da Casa Canadá e o 70° aniversário da invenção do cinema fundiram-se numa só imagem, projetada na tela interior do cronista. Talvez porque ao longo dessas matérias flutuassem vestidos. Longos brancos, esvoaçantes, que são os de maior rendimento plástico. Depois, de todas as cores e tamanhos, não só em levitação como inertes, no cabide, em caixas. Vestidos e mais vestidos e túnicas e saris e sarongues e saiotes e saias e manequins circulando. Oh, perdoai-me se reduzo a importância político-sociológica da eleição de uma grande mulher para primeiro-ministro às proporções de um sari no poder. Perdoai-me se a longa e maravilhosa história do cinema, invenção revolucionária que ainda não completou o seu ciclo, passa a significar apenas um desfile de modas. Quanto à Canadá Modas, obviamente, não peço perdão, pois de vestidos e ornatos mulheris era a sua substância.
Começando pelo mais geral, confessarei que na história do cinema seduz-me, entre muitos outros poderes de comunicação e persuasão que ele revelou, o poder de fabricação de mitos e, entre estes, os mitos femininos. São 70 anos de formulação e reformulação contínua de tipos que, partindo da visão cotidiana da mulher, a elevam à transcendência de imagens que só a poesia e a magia nos tinham feito pressentir. As técnicas naturalistas de conhecimento e as novas condições econômicas trabalhavam no sentido de desprestigiar a mulher, restringindo-a à posição de companheira comum de nossa existência masculina. Veio o cinema e produziu as mulheres imaginárias, mais belas do que qualquer uma de carne e osso, mesmo beneficiada pelos sortilégios dos salões de beleza. Criou as mulheres visíveis, mas intocáveis, ao alcance de todos e de ninguém, pois se quebramos as leis que regem o comportamento do espectador, e as tocarmos na vida real, logo decaem à condição banal da espécie. Só existem no filme, forma peculiar de existência, na qual a erótica achou também uma forma peculiar de expressão.
E é o vestido que as encarna, são vestidos andando ou repousando, vestidos assinados por especialistas, coautores da produção ao lado do diretor, do argumentista, dos demais técnicos. O mito não anda pelado, sob pena de deixar de ser mito. O nu é aparição fugitiva, e se demora mais do que “le temps d’un sein nu entre deux chemises”, dissolve o mito. Garbo, Dietrich, Hepburn, Crawford, Arletty, Bertini, Asta Nielsen eram deusas vestidas. As modernas, sem roupa, não chegam à categoria de mito ou se aniquilam como Marilyn.
Sim, é um sari governando a Índia, e embora tal vestimenta não seja rigorosamente o que por aqui se chama de vestido, nem por isso é menos vestido, e é até mais do que ele pela extensão drapejado em xale e em saia. Primeira veste feminina a quem os homens confiam a sorte de uma imensa comunidade: cinco, seis metros de pano fantasista envolvendo a dura responsabilidade que nenhum homem, no momento, estaria tão qualificado para assumir como herdeira moral de Nehru e de Gandhi. É hora de ler Cecília Meireles: "Os saris de seda reluzem/ como curvos pavões altivos".
Resta a certeza de que dama nenhuma dirá mais a outra dama, que o seu longo é obra da Canadá. Uma casa de alta costura que se fecha acaba também com um tempo, uma concepção de elegância, um estilo. Um vestido mais espetacular recolhe-se ao museu, como o de Dona Sara; os outros, ao museu da memória de quem os usou. Canadá fica sendo um vestido irreal no fundo do poço.