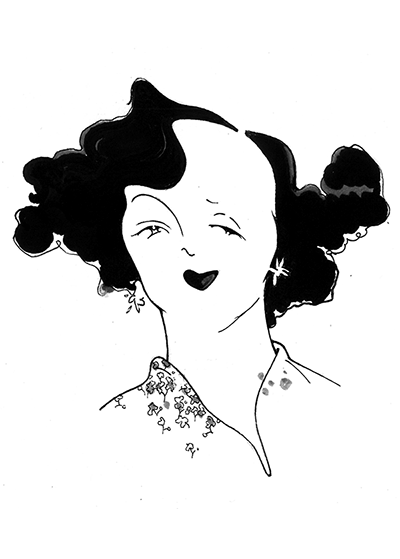Fonte: Quadrante 1, Editora do Autor, 1962, pp. 128-131. Publicada, originalmente, em A Manhã, de 30/11/1952, com o título "O beijo no morto".
Esperávamos o elevador que subia, descia, tornava a subir ao ruído do bater de portas, de falas entrecortadas; esse elevador que nunca chegava ao térreo, quando dois namorados vieram lá de fora, da chuva espessa. Observamos rapidamente o casal. Ele aparentava um ar de susto, o cabelo arrepiado, a gravata de lado, a boca tremendo. Ela era uma limpa serenidade. Parecia imagem de porcelana, com seu capuz liso e fulgurante das gotas de chuva. Olhava o moço inexpressivo, ausente. Ele houvera dito qualquer coisa decisiva, importante, que o acabrunhava, o arrasava. Bambeou um pouco o corpo, quando pediu à moça, enquanto nós tocávamos, mais uma vez, a campainha, chamando o elevador que possuía uma pequena troupe de gente confusa, a questionar pelos outros andares:
— Você me desculpa... pelo menos — e baixou a fala — você não me nega um beijo de despedida?
Então nós ouvimos algo de extraordinário, na correnteza do palavreado anti-poético, estúpido, que nos assalta em toda parte, nas ruas, nos quatro cantos da cidade:
— Mas... claro! Por que não? Quem é que não beija a testa do morto?
Sentíamos que estávamos seguramente invisíveis. Tudo ali estava invisível para os dois namorados, nesse grave instante: a grade do elevador, as pessoas que chegavam, até o jato de luz, descendo do lustre. Uma névoa os separava de nós, do cenário.
O rapaz ficou mais pálido com a declaração da moça. E, então, ela não teve dúvidas. Deu-lhe um rápido beijo na testa, beijo muito circunspecto e, no entanto, de triste caçoada. Beijava a testa de um morto. Disfarçamos nossa vontade de rir. E, nesse instante cinematográfico, o elevador aportou, numa orgia sinfônica, a desordenada carga humana em discussão esbaforida. Quatro sujeitos saíram, puxando-se uns aos outros nas mangas dos paletós, e lá se foram atropeladamente para a noite chuvosa. Entramos no elevador com a moça do capuz. O rapaz apertou-lhe ainda o braço e disse um — adeus! — muito trágico, mas baixo. Ela murmurou qualquer coisa. Vimos então o instantâneo do moço arrepiado, que ficava lá embaixo. No segundo andar, a pequena tirou a capa e libertou os cabelos castanhos. Dobrou o agasalho no braço, remexeu na bolsa, tirou o batom, pintou a boca pálida. Depois, inesperadamente, fazendo a descoberta, nos viu! E quem dissera aquela beleza de frase: Quem é que não beija a testa do morto?”, teve esta pergunta tola:
— Será que amanhã, também, vai chover? Tomara que faça um bom tempo!
Estávamos no quinto andar e agora voltávamos ao terceiro, puxados por algum obstinado que não soltava a campainha. Já aqueles contratempos com o nosso fito de atingir o décimo andar não nos perturbavam mais e respondemos otimistas e misteriosos:
— Podemos assegurar que amanhã não vai chover. Vai ser um dia belíssimo, notável, mesmo.
Tínhamos a intenção de terminar... — “Sabemos até que amanhã será um dia tão extraordinário que haverá a volta de alguns mortos…”
Mas o elevador nos despachou, como que tocado por alguma fúria, lá para as alturas do prédio. Perdemos a fala. E saímos no décimo andar. A moça continuou. Nem sequer pudemos transmitir a nossa certeza de que ela vencera o namorado. Sim. Havia dito a palavra exata, no momento exato. Aquela sua frase nunca seria esquecida pelo moço — estava claro — porque não há homem que resista a uma dessas frases de gênio, ditas por criaturas absolutamente comuns.