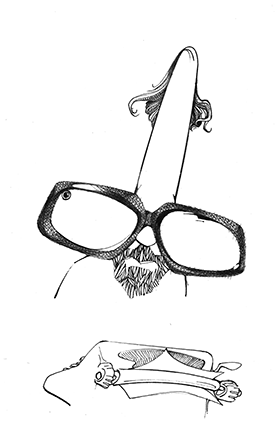Fonte: Jornal do Brasil, de 11/12/1978.
É dia de feira livre no meu quarteirão. A manhã está linda, com várias nuvens branquinhas no céu muito alto. Na praça, são quentes os coágulos de sol entre as sombras das árvores, quase frias. Os abricós estão maduros. (Há na praça renques de abricoteiros que uns pivetes colhem quando chega a estação). Sentados nos bancos, em grupos de três, os velhos aposentados se dizem coisas antigas, entremeadas de um silêncio de ostracismo. As crianças correm, e montados em seus velocípedes os garotinhos disparam em todas as direções. As babás discutem o último capítulo da novela, enquanto as mães, que são todas jovens, fumam e discutem a dificuldade de entender o que se passa no coração das mulheres de classe média, mais bem informadas do que cultas em questões de afetividade e sexo.
A feira é lá na calçada da Ataulfo de Paiva, começando em Bartolomeu Mitre, quebrando a General Urquiza e seguindo para a Lagoa. (Nossa praça, a Antero de Quental, tem voz. Toda vez que lhe lanço uma mira-mirada, en passant, ela murmura, a sorrir tristemente: “Ali, onde o mar quebra num caixão/ Rugidor e monótono, e o vento/ Ergue pelo areal os seus lamentos,/ Ali se há de enterrar meu coração…”). Ando no meio das donas de casa, ao longo dos tabuleiros onde estão expostas toda sorte de coisas: brincos, broches, coadores de café, tampas de panela, cuscuz de coco, chinelos, espelhos, camisolas de nylon, cataventos de cartolina. As barracas, tão frágeis, com suas coberturas sustentadas por quatro ou cinco ripas, começam mais adiante, na esquina de “sorveteiro com ovos de granja”... Começa ali também a azáfama propriamente dita, no fluxo e refluxo confuso da freguesia quase toda feminina, com seus carrinhos ou sacolas, na alegre confusão de vozes e gritos, regateios e pregões ⏤ e no meio disso tudo uns meninos que movimentam, extremamente ágeis, uns carrinhos de rolimã.
Uma gorda doméstica, empurrando um carrinho de feira, espirra. Um feirante de tamancos, sentado num caixote, saúda:
— Deus te ajude!
Uma irmã de caridade escolhe um buquê de rosas vermelhas. Um homem de roupa esporte, visivelmente exilado na classe média carioca, está matando as saudades de um pomar já desaparecido, recuperando o gosto de sua infância provinciana que, quiçá, ainda funcione no mapa, tal qual no coração: diante de uma pilha de carambolas, essa fruta de refinada geometria, ele come, ali mesmo, carambola após carambola. E a mulatinha que veio Deus sabe de onde, chamada a morar como cria e criada na casa da madama que é sua conterrânea, vai indo aos esbarrões, entregue à devoração de um cajá-manga tão doce quão azedinho.
Um montículo de inhames, roxo escuro. Igual à beterraba, o inhame guarda em si o perfume da terra. Acolá, amontoados num tabuleiro, um despropósito de dentes de ouro aflora das capas arregaçadas do milho verde.
Constatação melancólica: nessa profusão de formas e cores apetitosas, a densa abóbora mais parece um pedaço de gesso pintado de cor de abóbora, sem cheiro, sem gosto, sem graça. Desconfio que Deus estava fazendo a maquete da melancia. E me lembro de um diplomata chileno, faz isso uns 15 anos, que importou de Santiago um cozinheiro famoso, aproveitando estar ele (o cozinheiro) sofrendo um caso de amor algo escabroso, cujo outro comparsa decidira romper a união e fugir para a Praça Mauá e adjacências. O diplomata apresentou o cozinheiro à feira livre, ou seja, aos alimentos disponíveis aqui, com os quais ele deveria produzir suas especialidades culinárias. O cozinheiro ia andando, viu uma fatia de abóbora, pegou, deu uma mordida, fez cara de nojo, cuspiu com caroço e tudo e imediatamente marcou a passagem de volta, alegando que a-b-s-o-l-u-t-a-m-e-n-t-e não poderia viver numa cidade onde se comem coisas de tal modo insossas…