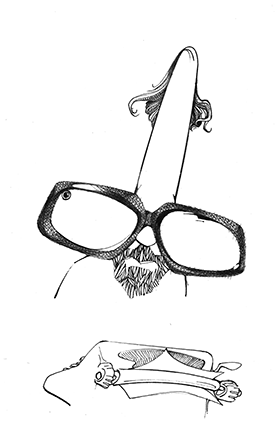Rudi, o Alemão, esteve comigo alguns instantes. Ao despedir-se, consultou o relógio: meio-dia em ponto. Então botei o papel na máquina e comecei a trabalhar. Seria forçosamente um trabalho duro, por causa da complexidade do assunto; só se resultasse num texto simples poderia ser compreendido por qualquer pessoa.
Quando terminei, sentindo que havia alcançado o meu objetivo, olhei o relógio: quatro horas cravadas. Tudo em ordem. Eu merecia um descanso. Achei que podia terminar de ler os jornais num bistrô aqui das proximidades, onde também costumo encontrar alguns amigos de convívio extremamente agradável.
Sentei-me num canto isolado e me concentrei na leitura. Pretendia acalmar o estômago, porque na crispação com que escrevo ele é incapaz de aceitar comida. Depois disso, almoçaria. Estava, assim, bebendo um refrigerante e recordando a destruição de Hiroxima, quando observei certo mal-estar numa das mesas. Foi fácil avaliar a razão desse desconforto: um homem que todos nós conhecemos de longa data estava a amolar a paciência de Deus e do diabo. Pouco bastou para que seu auditório se dispersasse refugiando-se em outros bares. Ele então (oh, Senhor, hoje não! hoje não!)... Ele então sentou-se diante de mim e deu início ao velho blá- blá-blá de boca mole. Há anos é sempre a mesma coisa:
— Pode parar de ler um instante? Eu queria lhe dizer uma coisa que talvez lhe interesse.
Dobrei o jornal, pousando-o na mesa.
— Eu tenho uma grande admiração por você…
— Garçom! — gritei eu. — Me traga costeleta de porco com feijão tropeiro.
— Que bom que você vai comer. Aliás, é a primeira vez que te vejo pedindo comida, e ainda por cima bebendo Coca-Cola. Está doente? É preciso comer, rapaz. Você está muito magro.
Em seguida (sempre foi assim) começou a enumerar as crônicas minhas que fez questão de guardar. Parece que tem uma coleção enorme de crônicas minhas. Uma delas, por exemplo, só de pensar ele começa a rir: fala de uma borboleta amarela esvoaçando entre o prédio da ABI e o jardinzinho que há nos fundos da Biblioteca Nacional.
— Essa é do Rubem Braga – ponderei.
— Ah, é do Rubem? Pois eu jurava que era sua.
Chegaram as costeletas e me dispus a comer, mesmo sem fome, pois pretendia cair fora logo que conseguisse engolir nem que fosse uma garfada de feijão tropeiro. Sem demonstrar tristeza por ter confundido o meu estilo com o do Braga, ele passou a louvar a construção de outra crônica minha – “não propriamente uma crônica, mas um pequeno conto, uma verdadeira joia” — e era qualquer coisa sobre um canarinho morto por estrangulamento — que, no final, vai se ver e puderam reanimá-lo com éter.
— Também acho essa uma joia — concordei. — O Drummond, quando acerta, ninguém chega aos pés dele.
Ia eu mastigando um pedaço de costeleta e ele desfiando a coleção de sua propriedade, a qual fazia dele um dos meus mais assíduos leitores e seguramente o único que me devotava uma admiração próxima do fervor. Citou Marisa Raja Gabaglia, Sérgio Porto, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e até eu mesmo.
— Bem, essa última de fato foi escrita por mim — reconheci, procurando confortá-lo.
— Não disse? Garoto, eu não costumo puxar saco de ninguém... Sempre falo com franqueza…
Devolvi o prato quase sem tocá-lo, bebi o cafezinho num gole só, paguei, apanhei meus papéis e ia indo embora, mas ele ainda me puxou pelo braço para me declarar que a coisa mais engraçada que havia lido na vida, tirante o Dom Quixote e o episódio do Almocreve, em Machado de Assis, fora aquela minha história publicada recentemente — como era mesmo que se chamava?... Ele deu uma ideia do assunto, e eu o liquidei assim, sem dó nem piedade:
— O título eu não sei mais qual era, mas sou também leitor assíduo do Carlos Eduardo Novaes.