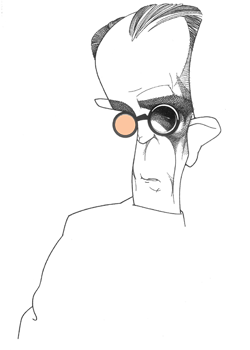Fonte: Linhas tortas, São Paulo, Martins, 1962, pp. 278-280. Publicada, originalmente, em fevereiro de 1952.
Não me aventuro a discussões: limito-me a dar alguns palpites, que provavelmente não serão aceitos, pois contrariam juízes bastante espalhados. Acho-me talvez em erro, mas arrisco-me a falar, procurando fugir a dificuldades que possam comprometer-me. Vamos ao essencial.
Ouvi, com espanto, um escritor afirmar que, em literatura e noutras coisas, era necessário suprimir a técnica. Não nos disse porquê: referiu-se apenas à necessidade. Essa economia de razões levou-me a impugná-lo do mesmo jeito: declarei, simplesmente, o contrário do que ele declarou. E o caso morreu, sem perda nem ganho para o auditório.
Não é conveniente, porém, ficarmos aí: reconheceremos sem esforço que o dito desse homem não tem pé nem cabeça. Se no trabalho simples não nos eximimos da aprendizagem, como evitá-la em trabalho complexo, na produção de um livro?
Ali por volta de 1935 realizou-se em Moscou uma enquete sobre a literatura soviética. Lembro-me da resposta de Romain Rolland. Havia nela uma frase de arrojo: “A arte é uma técnica” — o avesso do que ainda neste país asseveram, reproduzindo conceitos em moda entre 1922 e 1930. Com certeza o romancista exagerou: se a definição dele fosse justa, qualquer pessoa alcançaria bom êxito folheando um desses manuais que nos ensinam, em duzentas páginas, a maneira favorável de escrever. Isso não basta, suponho.
Em conversa, um crítico português jogou-me esta fórmula: dez por cento de inspiração e 90 por cento de transpiração. Chega-me também à memória a receita do espanhol a propósito de versos: maiúscula no princípio, rima no fim, talento no meio.
Mas pergunto a mim mesmo se a busca da rima não influirá no talento, se a transpiração demasiada não será vantajosa à inspiração. Acho que sim. É o pensamento de um sujeito medíocre, estão julgando os senhores. De acordo, mas se me for possível, em rija labuta, reduzir um pouco a mediocridade, considero-me bem pago.
Um cavalheiro nos amola querendo atenuar os prováveis defeitos de uma novela forjada em 15 dias. Falhas naturais, não é verdade? Foi a pressa. Quem exigiu tanta pressa? O nosso autor exporia obra mais aceitável se aguentasse dois anos, teimoso e paciente, o suadouro mencionado pelo crítico português. O dever do tipo que se dedica a este ofício é diminuir as suas imperfeições. Impossível dar cabo delas. Bem, já é um triunfo minorá-las. Não devemos confiar às cegas num amável dom que a Divina Providência nos ofereceu. Em primeiro lugar não é certo havermos recebido tal presente. E, admitindo-se a dádiva, não nos ensinou as regras indispensáveis à fatura de um romance.
Essas miudezas são na verdade horrivelmente chatas. Surgiram na aula primária, alongam-se, originam complicações — e não conseguimos livrar-nos delas. Não conseguimos, que o pensamento vem daí, dessas pequenas arrumações de insignificâncias. Se não tivéssemos o verbo, seríamos animais, na opinião dos entendidos. O grito — emoções traduzidas em berros. Depois a interjeição. Em seguida a onomatopéia. Tornamo-nos afinal palradores, distanciamo-nos dos nossos irmãos mais velhos — e no fim da semana bíblica Deus viu que isto era bom. E aqui estamos a remexer ideias, impossíveis há alguns milênios, quando a humanidade vivia em nudez.
Temos o direito de achar desagradáveis as palavras que nos impingiram na infância, a maneira de flexioná-las e juntá-las. Mas é com essa matéria-prima, boa ou má, que fabricamos os nossos livros.
No Brasil, nesse infeliz meio século que se foi, indivíduos sagazes, de escrúpulos medianos, resolveram subir rápido criando uma língua nova do pé para a mão, uma espécie de esperanto, com pronomes e infinitos em greve, oposicionistas em demasia, e preposições no fim dos períodos. Revolta, cisma, e devotos desse credo tupinambá logo anunciaram nos jornais uma frescura que se chamava “Gramatiquinha da fala brasileira”.
Essa gramatiquinha não foi publicada, é claro: não existe língua brasileira. Existirá, com certeza, mas por enquanto ainda percebemos a prosa velha dos cronistas. De fato, na lavoura, na fábrica, na repartição, no quartel, podemos contentar-nos com a nossa gíria familiar. Seria absurdo, entretanto, buscarmos fazer com ela um romance. Às vezes a expressão vagabunda consegue estender-se, dominar os vizinhos, alargar-se no tempo e no espaço.
Homens sabidos queimam as pestanas para dizer-nos porque uma palavra se fina sem remédio e outra tem fôlego de sete gatos. Respeitamos esses homens, quando eles metem uma delas no dicionário, respiramos com alívio. Estamos na presença de uma autoridade. No correr do tempo, achamos falhas na autoridade e vamos corrigindo, com hesitações e dúvidas, um ponto, outro ponto. Mas afinal é bom que ela nos oriente. Desejamos saber o que nos diz, embora, depois de refletir, a mandemos para o inferno com muitos desaforos, redigidos, está visto, na sintaxe que abominamos. Enfim paciência. O homem tem rugas e cabelos brancos.
Não toleramos é que um novato nos ordene, esquecendo a regra, desrespeito aos frades. Por quê? Os frades não nos fizeram mal e não terem morrido em automóveis, em aeroplanos, não é motivo para que os matemos no papel. Já não existem galeões nem caravelas, mas a gente da minha terra abrasada, população que nem se pode lavar, conserva expressões dos mareantes aqui desembarcados no século XVI.
Perguntaram-me há dias porque uma personagem sertaneja, esquecida em livro meu, se mexe de vante a ré. Sei lá! Sei que ela fala assim. Perdida no interior, longe da água, a minha parentela exprime-se desse modo. — “Como vai, seu Fulano?” — “Assim. assim. Por aqui, navegando.” Navegar ali é impossível; contudo a palavra persiste, como no tempo das galés e dos bergantins. — “Anda ao socairo dele”. Talvez isso em Portugal se tenha arcaizado, mas no sertão do Nordeste, descendentes dos marujos que endureceram manejando socairos ainda guardam a locução esquisita, hoje corrompida. Não dizem ao socairo, dizem assucar.
O que não existe, ao sul, ao norte, a leste, a oeste, são as novidades que pretenderam enxertar na literatura, com abundância de cacofonias, tapeações badaladas por moços dispostos a encoivarar duas dúzias de poemas em 24 horas e manufaturar romances com o vocabulário de um vendeiro.
Ninguém por estas bandas, que me conste, usou na linguagem falada preposições em fim de período. Essa construção inglesa não nos dará nenhum Swift. Porque em francês se diz jouer avec, o literato nacional descobre a pólvora escrevendo: “Temos aqui uma coisinha para a gente brincar com”. Tencionarão justificar isso lembrando a sintaxe dos índios, mas a verdade é que não falamos nheengatu, e a composição insensata, alegremente recebida por garotos propensos a conquistar a glória num mês, é falsa.
De nenhum modo insinuo que devemos escrever como Frei Luís de Sousa, mas isto não é razão para acolhermos extravagâncias. Nos dois casos há pedantismo e ausência de clareza. E se não conseguimos ser claros, para que trabalhamos? O nosso interesse é que todas as pessoas nos entendam, de vante a ré.