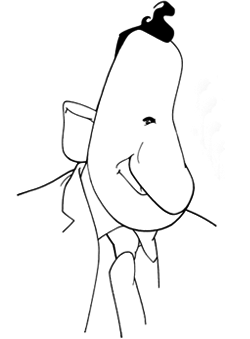Escritor profissional é uma invenção americana ― e recente. Mas viver de escrever ainda é quase sempre uma quimera. Em todo caso, já é possível no primeiro mundo. O sujeito batuca na máquina ou no computador anos a fio e sabe que lá um belo dia pode tirar na loteria. Acertar um best-seller é como um grande prêmio. Pouco importa se se trata de obra para a eternidade ou não.
Depois que o livro se tornou um objeto de consumo e passou a circular na sociedade de massa em igualdade de condições com os demais artigos do shopping ou do supermercado é que se tornou possível a profissão de escritor. Não tenho estatística à mão, mas é fora de dúvida que não é dos mais altos o número desses invejados profissionais inventados pelo paperback. O Penguin Book foi uma revolução na Inglaterra.
Para que se tornasse viável o sonho de viver de escrever, foi preciso primeiro dessacralizar o livro. Disse sonho, mas podia dizer pesadelo. Pois não é tarefa leve, essa de abastecer o editor e satisfazer um público que há de ser fiel e cada vez mais numeroso. Se não se amplia, que ao menos não se reduza. E este é apenas um dos riscos que ameaçam o escritor profissional.
Obrigado a desovar um livro de dois em dois anos, ou numa periodicidade que obedece a um ritmo imposto pelo mercado, o escritor nunca está seguro de que não conhecerá o fracasso. Ou até, Deus o livre, o bloqueio. Mas basta o espectro do fracasso de venda. Profissional como qualquer outro, o editor não investe o seu capital para perdê-lo. Há também da sua parte, às vezes, uma larga margem de risco. Ser editor é ser meio aventureiro.
O encalhe ameaça tanto o editor como o escritor. Se acontece, nada há a fazer. Todos os truques podem ser tentados, da troca da capa a uma boa campanha de marketing. Encalhado, o livro permanece inamovível. Sai das livrarias, se aí chegou a entrar, e se recolhe ao depósito onde repousa o estoque. Triste cemitério, que é cego para o valor das obras defuntas.
O mercado não cogita da qualidade literária do que consome. Todo editor conhece a experiência de um livro malsucedido. Pode ser que mais adiante o tempo corrija a condenação injusta, mediante uma nova oportunidade. Uma reedição, com capa e apresentação diferentes pode casar com uma circunstância propícia. E o patinho feio ganha plumagem e alça voo.
O mais comum é o livro encalhado voltar ao pó de que saiu. Impresso em papel, volta a ser papel, depois de transformado em celulose. Mais barato do que entulhar o espaço de um depósito é picar folha por folha, o que hoje é feito num instante por uma impiedosa máquina. Impiedosa porque com o livro sempre se destrói um sonho e até quem sabe um texto digno de ser lido.
Antes de chegar a esse extremo, o livro passa pelo circuito dos saldos. Pode aí ser vendido pelo peso, às cegas. Na seção de sales, nos Estados Unidos, o freguês paga cinco ou dez dólares por uma caixa que ele enche de livros a seu bel prazer. O livro já não tem título, autor ou personalidade. É apenas uma peça. Um volume.
O que sobra vai para o que na França é o déchiqueteur. A máquina de picar papel. A máquina aceita, voraz, tudo que o mercado recusou. Pode-se ler na imprensa a relação das obras e dos autores que são condenados à destruição. O déchiquetage não poupa ninguém. Não há grande, nem pequeno. Clássico ou vanguardista, antigo ou moderno. Tudo passa pelo fio da máquina implacável. E o editor ainda fica feliz de ter se livrado de um entulho pesado e indigesto.
Costuma ser espantosa a relação do que a casa Gallimard, por exemplo, considera refugo num final de ano. Há do mais fino Paul Valéry ao recente Prix Goncourt, passando por um mundo de traduções que se recusam a circular em francês. Não deixa de ser um consolo para o escritor que se edita a si mesmo e não sabe o que fazer com os exemplares de sua obra-prima. Chega um ponto em que não há mais destinatários, nem leitores potenciais, ainda que desobrigados de pagar.
Nos Estados Unidos, o escritor com talento e sorte tem a seu favor a boa remuneração de revistas e jornais. Os twenties da lost generation podiam atravessar o Atlântico e viver na Europa à custa do que escreviam na imprensa, mesmo antes de se tornarem glórias nacionais ou internacionais. A publicação de uma única short story pagava uma boa temporada na Itália ou na França.
Hoje, a situação não será muito diferente. Um John Updike pode viver de seus textos em The New Yorker. E continua na revista, mesmo depois de conhecer o sucesso em livro. Nascido em 1932, Updike já nos anos 60, aos 30 e poucos anos, ganhou milhões de dólares com Rabbit, Run. É ele próprio quem conta em suas memórias (Consciência à flor da pele). E há os prêmios, como o American Book Award, que é dinheiro fecundo, que faz mais dinheiro.
Em seu recente Navegação de cabotagem, Jorge Amado conta como conseguiu construir a sua casa na Bahia. Tinha 50 anos quando, em 1962, a Metro Goldwyn Mayer lhe comprou os direitos de Gabriela, cravo e canela, lançado lá por Alfred Knopf. E pagou mal. Hoje, aos 80 anos, em parte graças ao público americano, tanto literário como televisivo e cinematográfico, Jorge Amado finalmente pode ter um pied-à-terre em Paris.
No Brasil é um caso raro, senão único, pela extensão da sua obra e pelo número de traduções que tem tido em todo o mundo. Em qualquer outra profissão, o talento e o trabalho de um Jorge Amado seriam infinitamente mais bem remunerados. De qualquer forma, pode-se dizer que também no Brasil já é possível viver de escrever, mas em relação aos Estados Unidos, o escritor profissional ainda é aqui uma aspiração que nem sempre sai da intenção. Ou do papel.