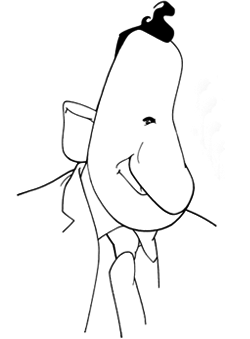Os nossos principais escritores do passado foram homens de imprensa. Um Machado de Assis, um Joaquim Nabuco, um Euclides da Cunha. Foi o que escreveu Álvaro Lins, que a si mesmo profissionalmente se identificava como jornalista. E era crítico de rodapé, biógrafo, ensaísta, professor. Exemplo expressivo do que então se dizia: que o jornalismo leva a tudo, contanto que dele se saia.
De redator-chefe do Correio da Manhã, passou a chefe da Casa Civil do Juscelino. Dali saiu para a embaixada em Lisboa. Lá sua veia polêmica entrou em atrito com o salazarismo. Mandou às urtigas as conveniências diplomáticas, como contou em seu livro Missão em Portugal. Hoje tão esquecido, o Álvaro bem que merecia uma homenagem luso-brasileira. Lá e cá.
Dos três nomes que foram chamados à colação, Nabuco, Euclides e Machado, este foi de fato jornalista. E assim mesmo no começo de sua vida. Repórter no Senado, deixou, imortal, a bela página de O velho Senado. No dia seguinte o repórter já não existia. Já o escritor dobra a memória dos séculos.
Como Nabuco e Euclides, Machado foi colaborador, articulista, folhetinista. Ou melhor: cronista. Sua graça pioneira abriu o caminho para os que vieram depois – e a tal ponto que se vive perguntando se a crônica não é um gênero tipicamente brasileiro. É o que entre nós corresponde ao essay britânico. Ou americano.
Uma introdução, como a de Annie Dillard, definindo o ensaio em The Best American Essays, de 1988, para cá transposta, pode definir a nossa crônica. Ensaio lá, aqui crônica, seus autores não são propriamente jornalistas. À medida que passa o tempo, o contingente desaparece. E fica o sumo atemporal. É o caso, por exemplo, do Nelson Rodrigues. O cronista-memorialista.
Importante, decisiva para Os sertões, a colaboração do Euclides da Cunha no Estadão não permite defini-lo como homem de imprensa. Tampouco Nabuco, para quem o jornal foi a indispensável tribuna. O alvo era chegar à opinião pública. Mobilizá-la, nela influir. Mas chamar Nabuco de jornalista seria, sem detrimento para os jornalistas, uma redução simplificadora.
Ninguém põe em dúvida que há uma linguagem jornalística e há, bem outra, uma linguagem literária. Servindo-se ambos da palavra, o jornalismo e a literatura são ofícios afins. Melhor dizer contíguos, para evitar que na afinidade se veja algo mais do que a mera e frequentemente casual vizinhança. Clarice Lispector disse uma vez que costurava pra dentro. Digamos que o jornalista costura pra fora.
Vizinhos no momento da partida, distantes quanto ao objetivo, assemelhados nos meios que empregam, apartados no processo de tais meios, as letras e o jornal caminham bem próximos, ou até entrelaçados. O evidente conúbio é, porém, fruto das circunstâncias. É como um concubinato indesejável e indescartável. Na sua trajetória comparável à de Machado, Drummond colaborou mais de meio século na imprensa.
Seus livros de crônicas resultaram desse incessante labor, de que retirava o pão de cada dia. Nem por isto se dirá que o poeta – ou também o prosador – é substancialmente um jornalista. Ele próprio disse que nunca se sentou para escrever um livro. Os livros se fizeram no dia a dia do jornal. Ainda assim, tinha de suplementar o modesto salário com os parcos vencimentos do emprego burocrático.
Com uns poucos anos de diferença a mais ou a menos, a geração de Drummond se confunde com a de Graciliano Ramos e a de Rubem Braga. Nenhum deles podia tomar a sério a ideia de viver de literatura. O jeito era o jornal. Daí, a literatura de jornal, de que o Rubem Braga é um típico exemplar. Numa apresentação que escrevi para o seu último livro, As boas coisas da vida, disse eu que aparecer primeiro na imprensa não compromete nem desqualifica um livro.
Citei quatro livros que me ocorreram na hora Memórias póstumas de Brás Cubas, O Ateneu, Vidas secas e O amanuense Belmiro. Ninguém acusaria Machado, Raul Pompéia, Graciliano e Cyro dos Anjos de ter desperdiçado sua criatividade literária no jornalismo fugaz. No Brasil e fora do Brasil, muitas obras e algumas obras-primas têm aparecido no jornal antes de se imprimirem em livro.
No caso dos quatro romances citados, nenhum deles se fez ao acaso. Tampouco se submeteu ao compasso do jornalismo. Aqui a pressa é amiga da perfeição. Às vezes é melhor errar depressa do que acertar devagar. Não há impressões digitais jornalísticas em nenhum dos quatro romances citados. Concebidos literariamente, literariamente realizados, têm a sólida permanência das obras de ficção que transcendem o tempo.
Pouco importa que as primícias de O amanuense Belmiro deitem raízes num diário mineiro dos anos 30. Vidas secas também foi escrito por encomenda de La Prensa, de Buenos Aires. Graciliano escreveu os capítulos como contos, para que a leitura pudesse ser feita sem o encadeamento e a sequência que tem no romance. Era a primeira vez que escrevia profissionalmente – e já caminhava para os 50 anos.
Profissionalmente como escritor e não como jornalista. Vivia como estudante pobre numa pensão do Catete. Rubem Braga, que lá também vivia, fixou o Velho Graça daquele momento. Com raras exceções, o escritor tem pago tributo à imprensa. Em boa parte continua um homem sem profissão, como de si disse o Oswald de Andrade.
Graciliano, quando vivia em Palmeira dos Índios, atuava em muitas frentes. É o que conta Osório Borba: orientava a administração, redigia o semanário, presidia às festas da padroeira, zelava pela moralidade pública, dirimia as questões de terra e de lavoura, escrevia cartas para namorados que não sabiam ler, fazia os discursos oficiais nas festas cívicas, dirigia a filarmônica, pedia moças para os rapazes, aconselhava as famílias. Uf! Em suma, um típico escritor brasileiro.