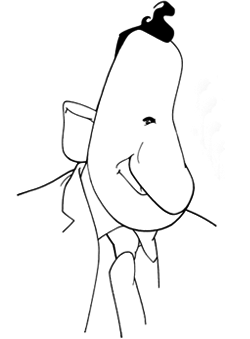A propósito da recente Bienal Internacional do Livro de São Paulo, leio e ouço algumas queixas sobre a situação do livro e em particular do escritor, no mundo de hoje. A Bienal foi um sucesso de visitantes e de vendas, numa hora de recessão. Parece que é da lógica que o livro não viva um momento de euforia.
Nem por isto as edições deixam de aparecer. Aparecem aos montes, de novos e velhos livros. Alguns a preços exorbitantes, se considerarmos o poder aquisitivo dos potenciais compradores. Mas estão cada vez mais bem feitos. Papel de boa qualidade, excelente padrão técnico. E editoração feita com bom gosto e conhecimento.
Sociedade de consumo e fatalmente de massa, o mercado brasileiro não parece estimular a indústria e o mercado livreiros. Seria o caso de verificar se é assim por causa da conjuntura econômica. E também se é assim só aqui entre nós. Tudo indica que as queixas serão antes universais. Começam no Primeiro Mundo.
Mesmo na imprensa, a grande tiragem é fato relativamente recente. Na França, o primeiro diário a alcançar o milhão de exemplares, e assim mesmo por pouco tempo, foi Le Petit Journal, em 1885. Nessa mesma época, Nana, romance bestseller de Émile Zola, atingia os cem mil exemplares. Talvez por isto a Academia Francesa lhe tenha fechado as portas…
Já neste século, em 1934, um romance que marcou época, La Condition Humaine, de André Malraux, mal tirou 30 mil exemplares. Hoje, um prêmio Goncourt, glória passageira, pode chegar aos 300 mil exemplares. Uma façanha no universo do livro; mas um número modesto se o compararmos com outros artigos bafejados pelo consumo de massa. O disco, por exemplo.
Há cerca de dez anos, Régis Debray analisou o que ele próprio chamou de esvaziamento da vida intelectual. Partiu do pressuposto de que o escritor perdeu a sua realeza. Passou a época do homem de letras. Na França, depois da guerra, encerrou-se a fase dos grandes escritores. Os monstros sagrados, de repercussão internacional.
Segundo Debray, o poder intelectual está em poucas mãos, cada vez menos numerosas, numa migração eletrônica que alcança cada vez maior número de receptores. Sitiada, a intelligentsia é obrigada a um pacto com o diabo e se sujeita à lei do mercado. O mercado por seu turno obedece a um público atomizado, que se conta por dezenas e centenas de milhões em todo o mundo.
Para quem se criou no clima de uma mística, ou de uma mitologia literária, hoje demolida, convenhamos que é pouco animadora a comparação do presente com o passado, ainda que recente. Nem é preciso remontar ao século 19, a um Balzac ou a um Flaubert. As grandes vedetes hoje pertencem a outras órbitas de sucesso e celebridade.
Para não falar do Brasil, veja-se o exemplo francês, no que diz respeito ao fenômeno da concentração da imprensa. Só em Paris havia em 1914 60 jornais diários. Estavam reduzidos à metade, a 30, em 1939. Hoje, não chegam a dez — e pertencem praticamente quase que só a um grupo, que controla a metade da imprensa nacional francesa. Já a televisão se expande e está sendo submetida agora a uma reformulação revitalizante.
Passando para o domínio do livro, os dados estão longe de ser estimulantes. Ou podem ser pinçados números arrasadores de qualquer visão otimista Depois de reconhecido internacionalmente, Samuel Beckett vendeu num ano 125 exemplares de sua peça En Attendant Godot. Paul Valéry, hoje nome de rua em Paris, vende por ano cerca de 300 exemplares. Na França, um Conrad e um Faulkner não ficam muito além. Se está certa a informação que leio, um e outro não chegam, em todo o mundo, a 500 exemplares anuais. Por livro, presumo.
Eu próprio ponho em dúvida este dado, mas pode servir de consolo para o que aqui estamos vendo como uma desgraça nacional. Não sei quantos exemplares por ano vende hoje Machado de Assis. Mas sei que a tiragem de seus grandes romances não ultrapassava os mil exemplares, quando eram editados em Paris. O editor Garnier fez questão de dizer que um dos grandes romances machadianos levou dez anos para se esgotar. Cem exemplares por ano!
No auge do prestígio nos anos 60, Stephen Spender tirava três mil exemplares — em Londres. Não vale a pena falar de estreantes, mesmo que logo tenham vindo a ser famosos. É o caso de Proust, que vendeu a fábula de 2.200 exemplares de Du Côté de chez Swann. Ao contrário de Claudel, que vociferava de ódio, Proust se deu por satisfeito — e pagou do próprio bolso a primeira edição do primeiro volume de seu roman-fleuve.
Há tempos, em conversa com Antônio Cândido, falamos do que pode se chamar de “perda da aura”, processo a que foi submetido o escritor desta era da imagem. O poder intelectual, expressão de Debray, está hoje dominado pelos mass media, que aceitam a lei do mercado e transformam o livro num objeto de consumo. A edição pode ser imensa e, claro, não há obrigatório vínculo entre o valor de um livro e o seu êxito de público.
A mim me parece que não há razão para esnobar um livro só porque vende muito. No frigir dos ovos, é o best-seller que sustenta o refinamento dos happy few, nem sempre dispostos a pagar do próprio bolso suas proezas vanguardistas merecedoras, nenhuma dúvida, de todo o aplauso. O fato é que a chamada república das letras mudou muito — e continua a mudar.
Há cem anos, pouco mais, Stendhal era ignorado ou desprezado pelos seus contemporâneos. Riam dele quando dizia que escrevia para o público de 2080, um século depois. Hoje, há pelo mundo o clube dos beylistes, que praticam o culto stendhaliano. Mas não constituem uma multidão. Há pouco tempo, uma revista francesa perguntou a vários escritores se ousariam dizer agora que escrevem para um público que virá daqui a um século. A pergunta pareceu ridícula, quando não despertou o riso dos entrevistados.