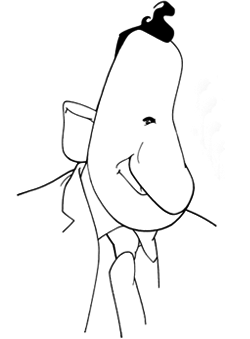Depois que a redação voltou ao vestibular, o que mais se ouve nesta época do ano é uma jeremiada sobre o desprezo a que está hoje relegado o livro. Ninguém sabe escrever porque ninguém lê. Não se cogita de verificar se de fato até outro dia, ou no passado profundo de nossa história, todo mundo não só lia, como sabia escrever.
Escrever é uma técnica e, como tal, pode ser ensinada e, claro, pode ser aprendida por quem quiser. Também é uma arte, mas isto é outra história. Há vários métodos de ensinar a técnica de escrever. O mais comum, ou o mais aceito, é o que elimina qualquer noção de gramática. Não há razão para impor regra, nem lei. Tudo se pode ignorar. Ninguém precisa saber análise léxica ou sintática.
Como os mestres que sustentam este ponto de vista sustentam também que pouquíssimo ou quase nada se lê, sobretudo nas novas gerações, presumo que a técnica de escrever seja ensinada por um processo mediúnico. Com a moda universal do esoterismo, quem sabe já se chegou ao aprendizado da leitura sem livro. Ou sem texto de qualquer espécie.
No tempo do John Kennedy, anos 60, divulgou-se por todo o mundo a leitura dinâmica. Pipocaram por aí os cursos que ensinavam a ler um livro de 500 páginas maciças em 10 minutos, no caso de você não estar com pressa. Se o caso fosse urgente, um supercurso ensinava a ler o mesmo livro de 500 páginas em três escassos minutos. Era no fundo uma nova edição da leitura em diagonal.
A leitura dinâmica fez fortuna, mas passou de moda, como passam as modas e as cegonhas. Ou as andorinhas, já que aqui não temos cegonhas. A cegonha é ave do Primeiro Mundo, mas viaja muito, conforme as estações. As da Europa do Norte, assim que o inverno vai apertando, vão descendo alguns graus de latitude.
As cegonhas entraram aqui como Pilatos no Credo. Mas sempre é possível associar os pássaros migratórios ao meu tema, que é a leitura. Ou o livro. Cegonhas e andorinhas fogem do frio porque não leem. Se lessem, se não fossem analfabetas de pai e mãe, se metiam em casa e, diante da lareira, mergulhavam na leitura.
Nenhuma estação é mais propícia para esse “vício impune” do que o inverno. Se aqui não temos estações bem vincadas, com um inverno de fazer esquimó bater queixo, pode-se concluir que aí está uma sólida razão para o brasileiro ler pouco. A grande maioria não lê exatamente pela mesma razão que levou aquele soldado a não atirar com o seu fuzil.
O soldado, coitadinho, tinha um belo fuzil, mas não tinha munição. Uma única mísera bala. No Brasil, como sabemos há séculos, nossos compatriotas analfabetos se contam por milhões. Depois que o sufrágio é aqui universal, temos 80 milhões de eleitores. Ou mais. A metade, ou mais da metade, não sabe ler. E mal assina o próprio nome. Devem votar assim mesmo? Devem, claro.
Até porque é muito difícil diagnosticar com precisão o grau de analfabetismo de um cidadão. Há titulares de diplomas e canudos que não vão muito longe em matéria de alfabeto. Um simples ditado, daqueles que há anos se davam na escola primária, pode derrubar milhares de bacharéis de grau superior. Isto para não falar da crase.
A crase é hoje um obstáculo tão difícil, ou mais, do que o “cujo”. Há 30 anos ou mais, o Ferreira Gullar formulou as novas tábuas da lei nessa matéria. O primeiro mandamento trazia o princípio da libertação. A crase não foi feita para humilhar ninguém. Era um tempo em que a crase ainda humilhava.
Hoje chegamos a um tal nível de saúde mental que ninguém se abala com a crase. O Luís Edgar de Andrade, exímio craseador, propõe que se acabe com a crase, nessa prometida unificação ortográfica que o embaixador José Aparecido vai patrocinar em Lisboa. Eu sou contra. E digo logo por quê.
Sei crasear desde criancinha, o que não quer dizer que esteja livre de torturantes dúvidas. E de vez em quando caio em perplexidade, para não dizer em erro crasso. Mas não posso ser ingrato com a crase. Afinal é à custa dela que tenho vivido. Ou também à sua custa. Se todo mundo soubesse crasear, ou se a crase fosse abolida, é possível que eu tivesse passado a vida desempregado.
O mesmo poderia dizer de meu pai, que foi professor de crase, isto é, de português e latim. Foi em boa parte graças à crase que ele criou a numerosa família. Quero crer que o sucesso do Novo manual da redação desta Folha seja também devido à crase. Ou aos seus mistérios. Pois o Novo manual ensina até a crase diferencial, o que é um requinte.
Talvez não ensine o uso de “cujo”. Não fui verificar, mas vejo na televisão e no rádio que o “cujo” bateu asas e voou. Virou ave migratória. Talvez tenha se refugiado em Portugal, ou quiçá em Angola. No lugar de “cujo”, o que se diz hoje é “onde”. A escola “onde” o professor ganha pouco. O hospital “onde” o médico não dá plantão. Ministros, senadores, deputados. Todo mundo.
Mas afinal de contas, eu ia falar da leitura. E do livro, cujo dia passou quase despercebido. Pois há um Dia do Livro. Mera coincidência, é o dia de São Judas Tadeu, o santo dos impossíveis e dos desesperados. São Judas Tadeu, de quem sou devoto, atraiu à sua igreja milhares de fiés no Rio e pelo Brasil afora. Aliás, bastaria dizer que ele é o patrono dos funcionários públicos.
Podia ser também o patrono do livro, já que o livro, pelo que ouço, só existe e resiste por força de um milagre. Cheguei até aqui e não disse o que queria. Digo agora assim de estalo o que é a minha tese. Seguinte: nada neste mundo é mais promovido do que o livro. Objeto sagrado, está na origem de várias religiões. A Bíblia, o Corão, etc.
Dessacralizado pela sociedade de consumo, o livro não perdeu status. Continua a seu modo sagrado. Quem ousaria, por exemplo, declarar de público que não lê? Conheço dois casos. O Graciliano, que nos últimos anos de sua vida não lia nada. É o que ele dizia. E o garoto que outro dia disse na televisão que detesta ler. Cara de pau? Não. Um bravo!