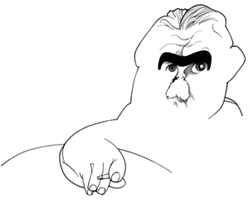Esse rio Acre, que corta a cidade de Rio Branco é, no mês de agosto, estreito e raso, correndo entre barrancos. Ao longo das margens a gente vê, sempre, a lavoura de vazante que o caboclo planta, principalmente o feijão de corda. Eu já havia visto, no Amazonas, essas lavouras longitudinais — duas fitas paralelas, de um lado e outro do rio, léguas e léguas, debruando a floresta.
Para atravessar o rio, na cidade, há uma escada e armação de madeira, lá em baixo estão os barcos a remo, com um pequeno, mas elegante, toldo de lona; na cheia toda a armação é arrancada e levada pelas águas, que sobem os barrancos e inundam as margens. E sempre quando o rio desce ele leva consigo muita terra das margens: está ficando cada vez mais largo e mais raso. Tudo o que a cidade importa, a não ser o que vem por avião, deve chegar no tempo das águas, subindo os meandros caprichosos do Purus, e depois esse seu afluente.
Durante o dia, as beiras do rio se animam. Há sempre mulheres lavando roupa, debaixo de um para-sol feito com folhas de palmeiras. As crianças nadam e também caboclas e homens estão incessantemente pulando na água meio barrenta. As “montarias” e canoas cruzam o leito para um lado e outro: às vezes uma “chata”, às vezes uma balsa de bolas de borracha. De vez em quando um caboclo pescando no poço, onde dizem que mora uma sucuriju. O Acre perto da cidade é um rio alegre como uma rua.
Mas nessa viagem que fazemos em lancha, ao anoitecer, a paisagem é de uma profunda melancolia. O crescente, no céu, desenha o perfil das árvores altas sobre os barrancos, ou projeta suas sombras nas águas das curvas, entre lampejos de prata. Olhamos as estrelas. Anoiteceu. Mas a boreste, para trás, há um vago clarão rubro, uma queimada distante que espalha seu sangue no céu, como um estranho arrebol. Passamos diante de uma barraca de madeira e um homem me explica: lá atrás, um pouco retirado na mata, é o leprosário. Olho a mata escura e triste. E me imagino naquele leprosário no fundo do mato, olhando de um lado essa lua branca, de outro essa mancha vermelha da queimada distante, esse vago clarão de sangue na noite, como um inútil protesto, estúpida esperança.
Vamos avançando lentamente. Depois a lua desce, morre; e o clarão da queimada ficou para trás, sumiu na escuridão. Agora puxamos o arrastão, os pés fincados na lama, sob a paz das estrelas. É madrugada. Os doentes, no leprosário, eu penso subitamente, devem estar dormindo.