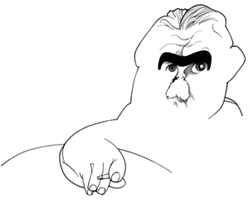Me telefonaram outro dia (esta saída de frase com pronome oblíquo já é homenagem a Mário de Andrade) para ir a S. Paulo tomar parte em comemoração dos dez anos da morte do “Macunaíma”. E o colega que telefonou me disse: “estamos organizando uma caravana de amigos do Mário...” Expliquei que não iria, por um fato simples: nunca fui amigo de Mário.
Quando cheguei a S. Paulo pela primeira vez, em fins de 1933, fui trabalhar no Diário de S. Paulo, onde ele fazia crítica musical. Eu tinha 20 anos e uma ardente admiração pelo escritor ― e quase toda noite ele chegava para escrever sua crônica na mesa ao lado da minha. Nunca fui muito simpático e na juventude devia ser pior do que hoje; e não conhecia uma só pessoa em S. Paulo, quando lá cheguei. Fiquei, naturalmente, contente de conhecer Mário de Andrade, mas logo notei que as pequenas gentilezas que lhe fazia ― fornecer-lhe papel para escrever, por exemplo, ou indicar ao “boy” que ele devia ter primazia no receber o cafezinho ― eram recebidas por ele com uma completa frieza e mesmo uma vaga hostilidade. Ao sentir isso, felicitei-me por não me haver dirigido a ele com nenhuma expansão de admirador, e limitei nossas relações a um vago e nem mesmo obrigatório “boa noite”.
Mais tarde, ao longo de dez ou 11 anos, tendo em comum os melhores amigos, nossas relações nunca melhoraram ― e duas ou três vezes tive com ele desagradáveis atritos que nunca chegaram a uma completa ruptura de relações, mas criaram um clima de evidente mal-estar mútuo. Não caberia aqui historiar esses atritos; Mário, aliás, com seu ingênuo cuidado epistolar com a posteridade, deixou-os relatados em mais de uma carta a amigos, das milhares que escrevia. Numa delas se queixava acerbamente de mim, atribuía o que clamava minha hostilidade ao fato de não haver ele simpatizado comigo no início, e exagerava as coisas ao ponto de dizer que eu era “a asa negra” de sua vida. Só uma vez o ataquei por escrito, e com o devido respeito: foi ao estranhar, em uma revista do Otávio Dias Leite, de Belo Horizonte, que ele tivesse assinado, com Menotti del Picchia e Cassiano Ricardo, o manifesto fascistizante de um movimento financiado pelo grupo de Armando Sales, a “Bandeira”, que chegou a ter um jornal diário, o Anhanguera, e que pretendia combater o integralismo com suas próprias armas. Soube que a minha referência o feriu profundamente ― e ele explicava a amigos comuns que assinara o manifesto para não correr o risco de perder seu lugar de diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura, que criara, e onde realizava uma obra que considerava (e era) muito importante.
Antes de seguir para a Itália, como correspondente de guerra, estive em S. Paulo, em 1944, com Mário, numa roda de amigos comuns, uma noite no bar Franciscano. Impressionou-me seu aspecto e ao voltar ao Rio disse a mais de um amigo que sentira algo de estranho ― o sinal ― da morte em sua grande cara. “Parece uma jaca podre” ― foi a expressão que me ocorreu. E juntei que tinha certeza de que não o veria mais, sentia que ele ia morrer breve; quando eu voltasse da Itália, se voltasse, ele já estaria morto. Disseram que era má vontade minha; não era. Um dia, ao chegar da frente, em Pistoia, recebi a notícia de sua morte.
Estes dez anos foram quase de silêncio; mas não tenho a menor dúvida de que a qualquer momento, agora ou mais tarde, a obra de Mário voltará a ser admirada, estudada e discutida com um interesse e uma paixão que talvez só encontre paralelo na obra de Machado de Assis. Ele era múltiplo, riquíssimo, poderoso. E lhe bastaria um livro mínimo, com os “Poemas da negra” e os “Poemas da amiga”, para lhe garantir a mais pura glória. Na caravana dos amigos não vou; mas aqui lhe rendo, como leitor, uma limpa e fervorosa homenagem.