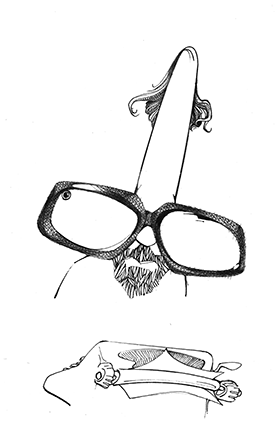Fonte: Caderno B, coluna "O homem e a fábula", Jornal do Brasil, de 21/01/1961.
Devo a Rubem Braga a descoberta do que é moderno. Menino, começando a aprender meu ofício, e encontrando as bibliotecas da província atrasadas de 50 anos, afeiçoei-me, no início, à maneira de Machado de Assis. Mas as palavras do mestre, o ritmo de suas frases não se assemelhavam à minha época; não me satisfaziam; escrevendo pelo prazer de escrever, sem pensar em publicação, não podia, entretanto, livrar-me da sensação de estar sendo anacrônico. As palavras devem nascer na hora e da hora; de outro modo, a literatura não passará de mistificação ― ou demência. Nesses dias alguém me emprestou Morro do isolamento, contendo antigas crônicas de Rubem Braga. Li em seguida O conde e o passarinho, e os outros. A diferença para Machado de Assis era a mesma do automóvel para o tílburi. O que mais me encantava era o tamanho das frases, sempre adequadas à natureza daquilo que formulavam. Adeus redondas, e viciosos períodos de Machado ― magistrais formulações que um dia será preciso reescrever, porque envelheceram. Ali estava a liberdade; com os modernistas, Oswald, Drummond, Mário, a iniciação se completaria.
Ora, a amizade e a fidelidade são as virtudes marcantes de Rubem Braga, e eu cometeria uma traição se não levasse em conta esses belos atributos no momento em que, pela primeira vez, me pronuncio sobre sua obra. Assumi livremente a pior posição no jornalismo literário; partindo do princípio, que me parece salutar, de que ninguém se realiza sem internacionalizar os seus conflitos interiores ― a atualidade inteira, com efeito, está comprometida em cada vacilação da minha alma ― e vendo a minha geração sofrer perante enormes dúvidas, procurei, em cada tema, em cada livro, em cada acontecimento, o criminoso silêncio, a hipocrisia mascarada de elegância, a frouxidão ― nossos inimigos. Um filho desorientado corresponde a um pai com sentimento de culpa; um jovem transviado corresponde a uma sociedade assentada sobre falsos valores; um suicida corresponde a um mundo naturalmente absurdo; e assim uma literatura não entra em crise porque está chovendo: ― os escritores de prestígio firmado devem ser denunciados por omissão ou má-fé.
Rubem Braga representa, eventualmente, alguns vícios contra os quais os jovens se insurgem. Trata superficialmente assuntos muito sérios; brinca em serviço, como se diz. Mas quem pode escapar ao fascínio destas frases, cuja precisão não prejudica a delicadeza do sentimento, e a esta justa aliança entre a emoção do vocábulo exato e a emoção do objeto de que se fala (outrora, esse objeto era grave: Deus, o demônio; hoje, um corpo de mulher, uma onda que se quebra na areia), harmonia vocal que perdemos com o Padre Vieira? Rubem Braga não tem culpa de servir de mau exemplo para alguns apressados; na verdade, se sabemos ler, o que nos ensina são muitas e belas coisas, a começar pelo principal: ― é ele o único escritor brasileiro, que a todo momento nos lembra onde se encontra a literatura, porque ele sabe; está ali, perto dele, ao seu redor, nas nuvens sobre o mar, nessas moças de que nos oferece breves e inesquecíveis retratos. A língua portuguesa morreu, ao menos para aqueles que a manipulam atualmente. Comem-se os pronomes sem qualquer motivo; a incapacidade de refletir condenou o parêntese; a premissa fantástica de que literatura e filologia são a mesma coisa, transformou alguns livros em verdadeiros necrotérios, nos quais a morte se manifesta na forma de uma frieza e um desinteresse de cérebro eletrônico; sem falar nos semianalfabetos, recebidos, a princípio, sob generalizada condescendência, e, finalmente, consagrados. Somos o único país do mundo em que os críticos literários ousam dizer de alguém que é grande escritor, embora, segundo reconhecem publicamente, não saiba escrever.
Esses sodomitas surgem por toda parte e já não é possível denunciá-los sem trair certo ressentimento; dominam a praça; fazem as regras do jogo. Entretanto, solitário, num pequeno bairro carioca, diante do mar, tendo por material o que lhe está mais próximo e alardeando luminosa intuição verbal, Rubem Braga defende da dissolução o seu idioma, manipulando-o com fervor e carinho, deixando-o livre, mas sem perder o controle; não maltrata, não mutila, não trai em momento algum o espírito da língua para satisfazer ― como outros fazem ― obscuras ambições extrapalavra. Hemingway observou uma vez que, depois do Ulysses, de Joyce, tornara-se mais fácil escrever em inglês; quanto a nós, depois de Rubem Braga, uma sintaxe torturada há de justificar-se tão somente na torturante situação espiritual de quem a constrói: nosso idioma é um instrumento dócil.
***
Falo de prosadores. O que se chama hoje de problema da prosa não é senão uma vasta panaceia. Inicialmente, não por ingenuidade, mas por má-fé, quem diz prosa, está querendo dizer ― a expressão é nova, em todo caso ― prosa de ficção. Por prosa de ficção segundo parece ― a discussão é a mais confusa possível e, para dizer tudo, a mais monótona ― entenda-se a prosa na qual não existe aquele que escreve. Mas a minha opinião é conhecida: ― cada qual deve fazer todo o possível para ser o autor daquilo que escreve. Quando um narrador diz ele, quem diz ele sou eu ― o narrador. Sou a última instância, bem como a origem desse afastamento artificial que cria ele. Em Rubem Braga, escritor que tem fama de só falar de si mesmo, não encontramos uma única página que não seja a cristalização ― os iniciados em psicanálise podem dizer sublimação ― de uma experiência efetivamente vivida. Não a experiência direta, mas sua transmudação ― em quê? ― em verbo! Ele ouve o seu próprio coração, no qual existe um filtro. Quando o oceano fica furioso em Copacabana, os jornais evocam uma profecia sem dono, segundo a qual este bairro frívolo e pecaminoso será destruído pelo mar. Do fundo da consciência de Rubem Braga ― nossa mesma consciência coletiva de uma linguagem que a tradição atribui aos nossos ancestrais ― levanta-se uma esquecida sintaxe, e ei-lo transformado em ponto de união entre a fala portuguesa arcaica e o mais efêmero vocabulário carioca. "Ai de ti, Copacabana!", uma página nascida do acaso e sem temor, com a aparente finalidade de durar uma semana, mostra-se no livro em sua frescura e violência: ― um escritor consumado, um dia, deu-se ao trabalho de tratar de um assunto banal, e... Essa e tantas outras páginas de nosso encantador padeiro espiritual me fazem considerar admiravelmente (bem como inexplicável) que ele nunca tivesse tido vontade de escrever um livro de muitas páginas sobre um único assunto; ou, considerada a questão de outro ângulo, me espanta que o País em que vivemos se dê ao luxo de dispersar no cotidiano aquele que é, sem dúvida, o seu mais ilustre escritor vivo. Dele se pode dizer em suas próprias palavras "este é o seu luxo (do grande artista), atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade".
Não se diga, entretanto, que seu destino tenha sido incompleto. Rubem Braga só acredita no instante; adorador de Dionísio, presta homenagem às águas, ao vento, à chuva, às mulheres bonitas. Diariamente nos chama a atenção para este fato: a vida cotidiana é o que há de mais sagrado; fora disso não há mais nada. Sem drama, às vezes com melancolia, aceita esta verdade e vive de acordo; muito provavelmente é ele quem tem razão, de modo que devemos admirá-lo e respeitá-lo também por isso, sem contar com a autoridade que lhe confere o seu artesanato inigualável.