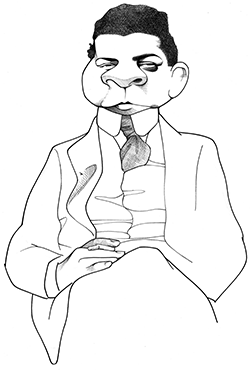Fonte: Toda crônica. Apresentação e notas de Beatriz Resende; organização de Rachel Valença. Rio de Janeiro, Agir, 2004, vol. I, p.88. Publicada, originalmente, no periódico A Estação Teatral, de 24/06/1911 e, posteriormente, no livro Impressões de leitura, Brasiliense, 1961, p.259.
Hoje não me sinto bem-disposto para escrever; e, desde que as ideias não me acodem em abarroto nem a pena escorrega célere, não é bom forçar a natureza, tanto mais que tenho que contar com todos os intermediários necessários entre o meu pensamento e os leitores, para desfigurarem o meu artigo. Sendo assim, o melhor é interromper a série de rápidos estudos que venho fazendo dos nossos homens de lápis e pincel, e escrever qualquer coisa.
Há pouco a escolher. A questão do Teatro Municipal está morta; matou-a a nomeação de Coelho Neto para diretor de sua diretoria-geral.
Não sei bem se Coelho mantém a questão de manter o teatro. Nesse particular, o meu pensamento oscila de uma coisa para outra; entretanto, calando ressentimentos muito justos, eu não quero destoar das louvaminhas com que tal nomeação foi recebida.
Se não fosse o desejo que tenho de me acomodar, diria que o poderoso literato vai levar para o teatro do Rio de Janeiro a fina flor da mocidade literária, na qual, meus caros senhores, eu só encontro um defeito: com raras exceções, essa fina flor é estranha à cidade pelo nascimento, pelos sentimentos e convicções. Então será o Rio de Janeiro que os deverá animar?
Se não fosse o desejo que tenho de me acomodar, diria que o festejado escritor, com a sua mobilidade de pensamento e acessibilidade à lisonja, vai influir para que a concorrência de autores ao teatro seja diminuta, já por não se poder contar com um seguro critério literário seu, já por se sentir excluído quem não for seu amigo e frequentar as suas salas.
Este Rio de Janeiro é bem desgraçado. Manda fazer um teatro que custou não sei quantos mil contos, com ônix, mármores, sanefas, assírios, no puro intuito de embasbacar os argentinos, e sai-lhe um edifício, segundo dizem, defeituoso. Não contente com isso, tenta criar uma corrente de autores e uma escola dramática; o que aconteceu? Desastres. Agora, vai tentar de novo e quem põe à testa da empreitada? Coelho Neto! Decididamente, o imortal romancista está ficando um ditador das nossas letras; e me parece, vai sair-nos um Porfirio Díaz da pena. Tem em cada jornal de importância um embaixador; possui na Academia um bando, o dos cabots; é conselheiro dos editores e, agora, toma conta do maior teatro oficial do Brasil.
Não há remédio! Qualquer que seja o caminho que tomemos, o encontro com ele é inevitável. Ai dos vencidos!
Tenho até certa admiração por Coelho Neto; mas essa ditadura dá-me medo, por isso, simplesmente por isso, saio-lhe na frente, antes que me possa fuzilar.
Não posso compreender que a literatura consista no culto ao dicionário; não posso compreender que ela se resuma em elucidações mais ou menos felizes dos estados d’alma das meninas de Botafogo ou de Petrópolis; não posso compreender que, quando não for esta última coisa, sejam narrações de coisas de sertanejos; não posso compreender que ela não seja uma literatura de ação sobre as ideias e costumes; não posso compreender que ela me exclua dos seus personagens nobres ou não, e só trate de Coelho Neto; não posso compreender que seja caminho para se arranjar empregos rendosos ou lugares na representação nacional; não posso compreender que ela se desfaça em ternuras por Mme Y, que brigou com o amante, e condene a criada que furtou uns alfinetes – são, pois, todas essas razões e motivos que me levam a temer que a ditadura de Coelho Neto me seja particularmente nociva.
Agora mesmo, quando comecei a escrever este artiguete, acabava de ler, num velho Mercure de France, um artigo do senhor R. Busy sobre os grandes sucessos de teatro, no século XVII, francês.
É o grande século de Racine, de Molière, de Corneille, de Rotrou, etc.
O maior sucesso sabem quem obteve? Adivinhem! Foi Racine? Foi Molière? Não foram eles; foi um senhor Thomas Corneille, irmão do grande Pierre, com uma tragédia, Timocrate. Representada num inverno inteiro, só foi retirada da cena porque... os atores se cansaram. Como são as coisas! O Cid e o Médecin malgré lui tiveram em começo medíocre sucesso e só obtiveram mais tarde a reputação que hoje os aureola.
É isto uma velha história, mas convém repeti-la para ensinamento de todos nós, meu também e – quem sabe? – do grande, do extraordinário autor de Pelo amor.