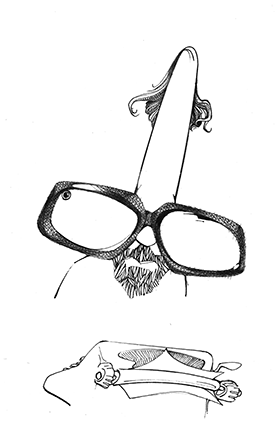Fonte: Flanando em Paris, Civilização Brasileira, 2005, pp. 363-365. Publicada, originalmente, no Caderno B, do Jornal do Brasil, de 25/11/1981.
Comi um magnífico cassoulet de gigot no Balzar, e fui andando a caminho do Sena, batido pela brisa gelada do meio da tarde, sob um céu azul esmaecente que as nuvens gordas já vão cobrindo, prenunciando a chuva. Atravesso o cais de Montebello e me vejo diante do Petit Pont, que me convida a passar, mas prefiro ir seguindo o cais, espiando as gravuras nos quiosques, sentindo muito frio nas mãos e nas orelhas, mas um frio delicioso. O rio cor de burro quando foge desce veloz entre os planos inclinados de pedra, brancos, que os comprimem. Atravesso a ponte de Saint-Michel e vou pelo outro lado, aproximando-me da Place du Parvis que é, na verdade, o adro monumental da catedral de Notre-Dame.
Chego a uma escadaria de pedras brancas e desço até à beira do rio tumultuado. Almocei bem, fiz uma boa digestão, sinto-me mais do que contente. Fisiologicamente feliz. Hiperestasiado nesta inebriante atmosfera de outono.
Ainda não disse o que Paris me oferece. Não são, a não ser em parte, esses monumentos, esses museus, a densidade histórica desses quarteirões, e seque um pensamento moderno sobre a vida humana, pois neste aspecto a cidade já viveu seus dias de esplendor e, atualmente os saudosistas clamam pelo renascimento. Em Paris, num sábado, na penúltima hora do metrô, quando tudo pode acontecer nos corredores e na beirada dos trilhos, às vezes tenho medo de homens que se aproximam com caretas inamistosas desenhadas no rosto; homens bêbados, fatigados, sonolentos, que discutem entre si e evidentemente não andam alegres. Tenho medo deles, mas quem são eles? São os estrangeiros. São os seres humanos, meus irmãos, e me amedrontam. São os meus indecifráveis semelhantes, de imprevisíveis desígnios, trazendo no coração uma angústia que não posso traduzir por falta de tempo (na circunstância dada) e quem sabe, se tivesse tempo, também, não poderia traduzir, por desconhecimento do idioma que essa angústia fala.
É assim que Paris me reduz à medida da solidão por mim procurada. E nesse isolamento, quanto mais os dias passam, quanto mais me diluo nessa paisagem humana, mais me aproximo dos murmúrios do meu próprio coração, que desejaria ouvir na fonte, sem as interferências desfiguradoras inevitáveis no Brasil. Gostaria de viver aqui assim, isolado, mas não apartado, por dois longos e abençoados anos ou por toda a vida se tivesse a chance. Já no entanto me debruço na amurada e começo a dizer adeus a essas águas castanhas que atravessam escachoantes a cidade querida. Cinco dias mais, e será tempo de seguir viagem, trocando o sentimento do estrangeiro pela emoção do parentesco, meio a meio agradável e inquietante.
Sento-me num café e vejo a catedral, o Hôtel-Dieu, os edifícios anteriores à República, as pontes. O Brasil está quase esférico, girando numa obscuridade quase cósmica, tal como gostaria de observá-lo por dois anos ou a vida inteira se tivesse chance. Mas, como da primeira vez (eu era jovem na rue du Vieux-Colombier), como da segunda vez (eu era o último noctívago a chegar ao hotel perto da Gare Saint-Lazare), como da terceira vez (eu era o hóspede predileto num excelente hotel do Trocadéro), como da quarta vez (eu era um doente roído pela mais brutal das dores físicas, e ia toda manhã suplicar um diagnóstico aos médicos do Hôtel-Dieu), como agora neste outono, a viagem há de se interromper antes que eu tenha escutado na fonte, límpidos, os murmúrios do coração. A verdade sobre um homem é uma única frase com a duração de sua vida, e seu destino neste mundo não se cumprirá antes do dia em que ele possa escutar esse discurso desde o princípio e até o ponto em que se quedou a ouvi-lo. Ansiando por esse momento, venho andando em busca de sítios apropriados à meditação.
Nesta tarde de Paris, hiperestasiado como um nascituro (pois o bebê nascido do parto normal é feliz como ninguém será depois dele ― nem ele próprio ― ao contrário do que dizem os teóricos do trauma), quase ouço a melodia simples de minha vida, quase apreendo os versos simples que dela e nela decorrem, quase faz pleno sentido ter nascido outrora acolá, e estar aqui agora. Três meses mais de isolamento nesta multidão estrangeira, de perquirição infatigável no âmago em que a minha carne se crispa, talvez me dessem finalmente a chave desse mim que sou eu plus a totalidade e, obscuro, apenas vislumbro quando se move como uma esfera na direção da luz, e logo se dissolve na obscuridade mansa.
No toilette do Café do Cluny, de onde saio cantarolando, a boa senhora que mantém o local em excelentes condições de higiene me fala num sorriso jovial estampado e rosto antigo:
O senhor está contente, hem? Espero que continue assim por muito tempo.
Respondo que sim, estou contente, e lhe agradeço os votos de permanência neste sentimento. Desço ao bar do rés do chão e peço uma taça de sorvete com cinco sabores diferentes. Desbordando de amor por Paris, acordarei amanhã, e depois, e depois, sem ter perdido uma faísca dessa felicidade nascida de uma solidão transcorrida no lugar propício.