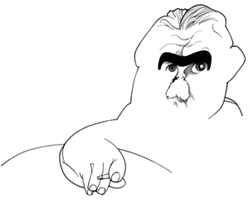Foi bom que eu viesse assim, cansado, meio obtuso, no fim da noite, e viesse como por acaso, entre outras pessoas. Foi boa essa conversa espalhada, sem importância, fútil. Era essencial não dizer nada: à força de falar coisas que não dizem nada todos acabamos docemente estúpidos e ocasionais.
Uma noite como qualquer outra, acho que até uma senhora falou sobre preço de perfumes, dois homens discutiram marcas de uísque, alguém fez referência a cães.
Na penumbra do bar tive bastante coragem para olhar um instante seus olhos; olhei-os de leve, como se temesse magoá-los com os meus. E esses olhos negros me responderam quietos; não meigos, mas mansos, aceitando meu olhar. Tive a impressão de que sua cabeça estremecia de leve sobre o pescoço fino; estremecia como uma flor. Seria uma brisa primaveril sobre seus vinte e poucos anos; mas eu sabia que não: eu sentia que sobre nossas cabeças, na penumbra do bar, um anjo (ninguém ousaria erguer os olhos para fitá-lo; olhávamos uns para os outros e para a mesa, os copos, a toalha, o chão), um anjo movera docemente as asas; era o anjo da morte. E a flor estremecera.
A morte. Combatemos essa palavra surda, essa ideia irreal. A flor. Ela estava ali, eu a via com olhos antigos; olhando sua testa doce eu pensava na veia azul do braço, a curva limpa das ancas, os joelhos, os seios. E como que revia seu corpo nu, casto em sua beleza, boiando entre nuvens de sonho, boiando no fundo da noite de minha memória, banhado pelo luar da saudade. Eu digo: o luar da saudade. Eu digo: a flor. Eu me recuso a procurar outras imagens; eu sinto essas, e sinto fundamente. Sua substância de flor, a delicadeza e a pureza de seu ser. Sua graça tocante de ave e de deusa.
Receei olhá-la mais um instante; disse alguma coisa banal e ela respondeu: procuramos o prosaico, talvez ela tenha sentido que eu necessitava estar no chão, me agarrar ao chão do presente; e ajudá-la também a ficar presa àquele instante no chão, substituir com meus músculos o peso da gravidade que faltava, fugir a essa vertigem doce que nos levaria ao limbo do tempo e do espaço e nos deixaria desamparados no ar.
Era preciso não pensar, não sentir, estar quietos. E a maneira de fazer isso era falar de coisas concretas e vulgares e vazias, e falar tanto que nós mesmo ficássemos também concretos e vulgares e vazios, até o desespero, até o fim do desespero, até o deserto tão perfeito que nele não existe a morte nem o amor, porque não existe a vida.
Saiu uma briga na outra mesa e subitamente senti dentro de mim um rancor surdo, vontade de entrar naquela briga, de socar com raiva e ser rudemente socado: de me empenhar com toda violência, inteiro, numa luta absurda, e naqueles homens desconhecidos quebrar a cara do anjo da morte, de todos os demônios da paixão que alucina, lutar até morrer com um palavrão rude na boca. Baixei os olhos, meus punhos fechados tremiam de revolta. Bebi meu copo de um trago.
Ela me olhou com um leve espanto, me censurou por beber tão de pressa, me olhou com olhos de irmã. Sorri, disse alguma coisa sem importância e fiquei sério, correto, cordial, fingindo não ouvir além do bar, além da rua, além do mundo, o ruído surdo dos Escravos do Mal pulverizando uma a uma, impiedosos, brutos, as mais belas estátuas ― os nobres torsos de mármore mais puro que o sonho dos humanos já criou.